O debate ética/estética é, provavelmente, o mais antigo da história da arte. Dentre os pensamentos cultivados na Grécia antiga, alicerce do conhecimento ocidental, a ideia de Beleza não era autônoma, mas estava, sobretudo, ligada aos ideais de justiça, bondade e virtude. Quando foi perguntado, por exemplo, para o oráculo de Delfos, sobre como deve ser avaliada a Beleza, teve-se: “O mais justo é o mais belo.”
Durante os séculos, as concepções estéticas foram-se modificando até chegar à ideia atual de Beleza Subjetiva, aparentemente desprendida da moral, em que cada um terá que se arriscar num diagnóstico acerca da beleza que “enxerga” (concebe). Como disse Eco : “Será obrigado a render-se diante da orgia de tolerância, de sincretismo total, de absoluto e irrefreável politeísmo da Beleza.”
Embora formalmente diversas, aquela Beleza Grega (perigosamente) se afina à da contemporaneidade – mesmo em meio ao furdunço característico a esta última. Em novembro do ano passado, no Museu de Arte Contemporânea em Olinda-PE, uma exposição intituladaMacunaíma Colorau, idealizada pelo artista Lourival Cuquinha e pela produtora Clarice Hoffman, fez despertar, aguçadamente, as implicações éticas carregadas pela estética. E que nesse sentido não podemos nos eximir de questionar.
“Macunaíma Colorau” trata-se, mormente, da presentação das populações indígena e quilombola pernambucanas – situadas no interior deste estado – em todas as suas complexidades políticas, estéticas, culturais, através de fotografias e videoinstalações. O que surpreende, no entanto, é a quantidade de estereótipos entranhados no ideário dessas pessoas (de culturas tradicionalmente negra e índia/indígena) que, apesar de não terem acesso imediato às produções (classicistas) europeias de artes plásticas, estão inundados por esta estética.
No vídeo Você é Macunaíma Colorau?, as perguntas giram em torno do que seria ser Branco, Índio e Negro. Os depoimentos nos assaltam e desapercebidos quedamos pasmos, não pela novidade das notícias, mas por vê-las tão escancaradas como se, coisas simples fossem. Para (a maioria de nós) os cosmopolitas habitantes da cidade, resposta alguma foi diferente das que estão acostumados. Apenas tornaram-se veladas, com o tempo, diante dos discursos do politicamente correto.
Diante das indagações do tipo: você é negro? Você é branco? O que é ser índio? Para além das características apenas estéticas (fenotípicas), associações de hábito e caráter entram no bojo do que é ser Branco que, por sua vez, é tomado como padrão de Beleza. Ser Branco é: “não ter manchas (na pele)”, “nariz pra cima”, “alma boa”, “não ter que trabalhar”.
Afirmações como as que se pode ouvir no vídeo a esse respeito às vezes soam tão retrógradas, no entanto, essas mesmas impressões são absorvidas como axiomas, não quando em palavras, mas como belas imagens. É por isso mesmo que não é de se espantar o sucesso cinematográfico da trilogia O Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson nos anos de 2001 a 2003. Série de filmes baseada numa obra literária de mesmo nome, criada pelo inglês John Ronald Reuel Tolkien O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, esta última, sua maior paixão, que, postumamente publicada, é considerada sua principal obra, embora não a mais famosa., que não é outra coisa senão uma obra estético-moral.
Embora a trama seja construída em torno dos Hobbits, uma raça especial cheia de virtudes e pouquíssimos vícios, a raça Humana é sempre o parâmetro. O sucesso ou fracasso da trama quase sempre está ligado às demonstrações de caráter dos Homens.
O Homem corresponde à Unidade, à referência estético-moral. A partir dele se medem todas as coisas: o melhor e o pior. Ele é o microuniverso. Figura o Bem e o Mal. O Belo e o Feio. O claro e o escuro. A Ordem. Tomemos por exemplo Aragorn. O herdeiro do trono de Gondor, da mesma linhagem de Isildur, e que por isso mesmo teme ter em suas veias o mesmo sangue corrupto que traiu a esperança de todas as raças da Terra-Média. Ao mesmo tempo, é um guerreiro destemido. Ele é a dicotomia: de um lado a fragilidade, o medo de ser traído por si mesmo, e do outro a força, a bravura. Trata-se de um homem bonito, mas que por seu receio não se porta como um herdeiro do trono, aparentando ser um reles guardião de aspecto sujo.
Todas as outras raças parecem ser construídas propositadamente pelo autor a partir desses traços humanos em estado mais puro e/ou intensificado:
Os Hobbits são um povo alegre, discreto, que ama a paz, a tranquilidade e a terra lavrada. Preferem regiões campestres e se vestem de cores vivas. Têm pés com solas grossas como couro, cobertos por pelos grossos. Geralmente, seus cabelos são encaracolados e castanhos. Os rostos são mais simpáticos do que bonitos: largos, olhos brilhantes, bochechas vermelhas – “bocas prontas para rir e para comer e beber”. Essas pequenas criaturas gostam de brincadeiras a qualquer hora do dia e fazem cinco refeições por dia. São hospitaleiros, adoram festas e presentes – que oferecem sem reservas e aceitam com gosto. Têm ouvidos agudos e olhos perspicazes, tendência a acumular gordura na barriga; nem por isso deixam de ser ágeis quando preciso. Não medem mais do que 1, 20 metros.
Os Elfos: altos, eretos, cabelos de um dourado brilhante, ou muito escuros, como a sombras da noite. Rostos belos e jovens. São temerários. Eles têm olhos brilhantes e agudos, uma voz que parece música. São sinônimos de sabedoria, imortalidade e poder. Seres veneráveis.
Os Anões são um pouco maiores do que os Hobbits. Têm o corpo truncado, rostos envelhecidos. São feios, quase sempre mal-humorados, ambiciosos e orgulhosos. São trabalhadores, guerreiros. Adaptam-se facilmente às situações adversas. São mineradores e artífices. Moram nos lugares escuros das minas, ou nas montanhas.
Em O Senhor dos Anéis, existe uma implicação entre aparência e moral. As raças humanóides são representadas de acordo com seus perfis de caráter. A estética do filme está carregada da ideia de Beleza agregada à Virtude. O Feio é a presentificação da falta, como vemos em Platão.
A estética fílmica está toda comprometida com os ideais de Virtude e Beleza. O que é Belo é também iluminado e virtuoso; o que é Feio é sombrio, asqueroso e vil. Não há hibridismo, com exceção dos Ents, os sábios guardiões das Florestas, que embora feios, não são maus. E o Homem, que é a complexidade, a dicotomia: nele habita o Bem e o Mal, mas está sempre em luta consigo mesmo para trazer à tona o que é Bom e Virtuoso. No contexto da obra não há a ideia do Feio aceitável ou da bela representação do Feio de Kant.
Os Orcs são asquerosos, monstruosos, maus e vivem nas trevas. Porém, eles já foram Elfos, os seres brilhantes. Do mesmo modo que a criatura repugnante Gollum foi um Hobbit. Existe uma indicação clara da necessidade de distinguir essa dicotomia: entre o que é Bom e o que é Mau. Durante a trama é possível perceber que sempre há uma punição, quase sempre com morte, para os que não se mantiveram virtuosos. É o caso do guerreiro Boromir, que tentou roubar o Anel para si; dorei Théoden de Rohan, que inicialmente nega ajuda à cidade de Gondor, e do próprio Frodo, personagem principal e mais virtuoso de todos. Quando, influenciado pelo Anel, decide não destruí-lo, acaba sem um dos dedos da mão.
O enredo fílmico, tanto quanto sua estética, está dividido em luz e sombra. O Condado, lar dos Hobbits, é um lugar ensolarado, com muitas árvores, enquanto que emMordor, onde vive Sauron, só existe escuridão, fumaça e uma terra inóspita. Essa indicação se segue, respectivamente, nos lugares onde habita a bondade e onde a maldade está instalada. É possível comparar essa mesma concepção no trípticoO Juízo Final,de Hans Memling Hans Memling (ou Memlinc) nasceu entre 1430 e 1435, em Seligenstadt, Alemanha. Acredita-se que tenha recebido educação artística em Colônia, de onde seguiu para Flandres, provavelmente para trabalhar no ateliê de Rogier van der Weyden. Em 1465 mudou-se para Bruges e conquistou celebridade na cidade e arredores. As composições e tipos de Memling repetem-se vez por outra, com poucos indícios de uma evolução formal. Suas virgens pouco a pouco se tornaram mais esbeltas, mais etéreas e tímidas. As obras tardias distinguem-se pelos motivos de inspiração italiana, como cenas bucólicas e cortesãs. Sua arte revela a influência dos pintores flamengos da época: Jan van Eyck, DirckBouts, Hugo van der Goes e, sobretudo, Rogier van der Weyden., 1472.
A história está construída em bases éticas nas quais representantes de todas as raças devem, virtuosamente, se unir em função de um bem maior, que é a salvação da Terra-Média através da destruição do Anel de Poder. Nesse sentido, a trama é intrigante porque, no início do filme, quando a Elfa Galadriel narra o epílogo, relata que o Mal foi trazido pela ambição de três Elfos, Sete Anões e Nove Homens. Mas é um Hobbit, a raça mais virtuosa, que tem que carregar o fardo de levar o Anel até as terras sombrias de Mordor para ser destruído. Todas as raças entendidas dentro de uma Ordem se equilibram. Elfos se contrapõem aos Anões em beleza, altura, sabedoria; e os Hobbits aos Homens, sobretudo na capacidade de manter a pureza da alma.
A questão mais urgente a ser pensada é que o Bem e o Mal não são coisas tão distantes e, nem sempre, facilmente identificáveis nas instâncias do nosso cotidiano. A ideia de Beleza agregada à Virtude pode levar a preconceitos graves. O Branco descrito por alguns dos entrevistados no “Você é Macunaíma Colorau?” parece ter a mesma afiguração do Homem em O Senhor dos Anéis, em que todas as outras “raças” parecem auferir estados de virtude e beleza quanto mais se assemelham a esse ideal.
É difícil saber ao certo como deu-se essa construção de valor em torno do Branco. A versão mais plausível é que esse ideário tenha-se desencadeado através do cristianismo: inicialmente com a catequese dos jesuítas e posteriormente a evangelização protestante – não à toa ainda vinga a concepção de que o Branco (europeu) é prospero, porque abençoado por Deus. Não podemos também deixar de considerar a grande influência da televisão – nesta, os estereótipos chegam para se enraizar. Nesse sentido, aquele valor ético-estético grego chega às comunidades indígenas e quilombolas, ainda que essas não tenham acesso imediato às obras de arte classicistas. Percebe-se o dano quando o modelo estético-ético é recepcionado às avessas. Daí, o modelo formal (fenótipo) arbitrariamente ganha, por associação, conteúdos de virtude, bondade e justiça (caráter). Ninguém está imune a esse efeito colateral. Quem nunca se pegou dizendo: “ele, um rapaz tão bonito, bem vestido, jamais pensei ser bandido”?
Com o modernismo, a questão ética/estética perde força, praticamente sai do foco com a concepção l’artpourl’art. A contemporaneidade recepciona isso, ao mesmo tempo que tenta se voltar para os discursos político-sociais, vivendo uma grande ressaca (sem precedentes?). Inebriados, rejeitamos o debate aprofundado e vivemos de constatação: como se o puro “apontar realidades perversas” fosse suficiente frente a todas as reflexões-transformadoras que nos furtamos a ter.
Diante da situação tão complexa na qual vivem as comunidades indígenas e quilombolas, soam condescendentes as suas formas de exposição na sociedade dos “Brancos”. Descendentes diretos de índios e negros nos chegam exóticos e simbólicos, mas o fato é que não nos aprofundamos em suas realidades de fato – tampouco, eles às nossas. Então, ficamos nesse jogo de aparências. Fingimos entender o que seria ser Negro, Índio ou Branco (é pra manter o itálico, como nas outras grafias?),destacando diferenças que já não cabem mais: roupas, gastronomia, religiosidade? Hoje há quilombolas evangélicos e índios de havaianas. Não duvido que, mais dia menos dia, a McDonalds encontre sucesso por lá…
É provável que nossa sociedade ainda carregue um trauma em relação ao fracasso do maior modelo ideológico ocidental baseado na moral: o cristianismo. Assim, poderíamos, pensando juntos (não necessariamente forjando denominadores comuns), começar a dirimir muitos equívocos, começando por um em particular: ver no fracasso dos modelos ideológicos o fracasso também da moral. A moralidade, paulatinamente, veio sendo tirada da equação e o valor da nossa sociedade reside no não valor. O que se tem é uma espécie de moralidade prática (amoralidade?), individualista, isenta de responsabilidade.
Ingenuamente, fomos levados a entender que, se a moral (cristã) fosse retirada de nosso meio, estaríamos a salvo. O problema: nos recusamos a continuar com a ideia de moral cristã, mas não nos demos ao trabalho de construir outra no lugar. Porque, no fim das contas,moral é tudo o que temos. Sem ela, é impossível estabelecer uma ética.
Vale lembrar que o filme, lançado em 2001, apesar da construção estético-moral perigosa, é também uma ode à amizade, ao idealismo e à humildade. No contexto fílmico, cada raça conhecia bem quais eram os seus valores e, por respeito a estes, uma sociedade (A Sociedade do Anel) pode ser bem-sucedida. Enquanto Índios, Negros e Brancos não aprenderem quais são de fato seus valores e encontrarem, ainda que através de embates necessários, uma forma (política) de compartilhá-los, a realidade vai permanecer perversa.
Interessa a quem os discursos de resistência? Que quilombolas e indígenas permaneçam em suas aldeias e quilombos? Ter a posse de suas terras é um direito e não um fim. Não deveriam todos conviver com a possibilidade de habitar “a cidade”? Seriam menos índio ou negro por isso? Qual é exatamente o valor que precisa ser preservado?
Ora, “uma pessoa só pode ser livre se todas as demais o forem igualmente” “uma pessoa só pode ser livre se todas as demais o forem igualmente” . Não podemos prescindir de uma discussão ética, muito menos estética – esta última nos assalta com morais escandalosas, mas naifes. Preferimos acreditar que a moral morreu com os modelos ideológicos.


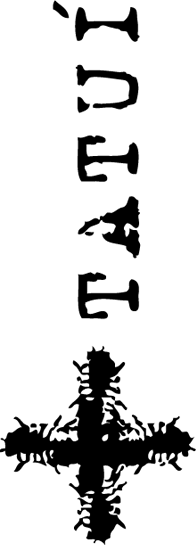
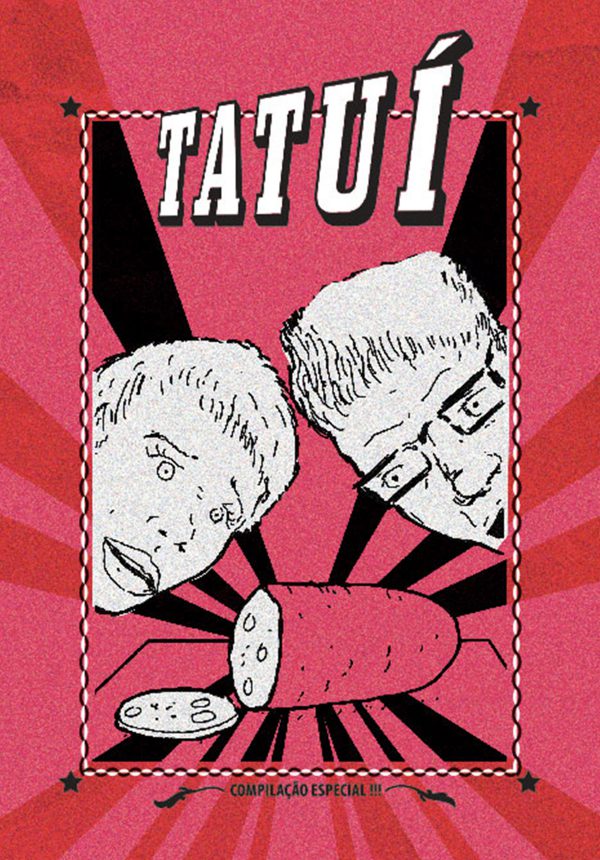
Comentários