Ordem do dia: pensar a mim, pensar a Tatuí, pensar a ponto de não saber mais o que estou pensando…
Glória Ferreira, crítica de arte a quem muito admiro, escreveu recentemente, ao comentar sobre a Tatuí num seminário na USP, que apresento certa “indecisão entre exercer uma atividade artística ou crítica”, donde tirei que devo parecer, aos olhos dos outros,razoavelmente indefinida. Um tanto quanto preocupada com o que pareço ser, pus-me a pensar sobre meus próprios pensamentos e acerca de minha condição aparentemente cambiante entre a “crítica” e a “criação”. E aqui compartilho parte de minhas elucubrações, cônscia que estou de serem elas um tanto quanto delirantes…
Para a configuração desta identidade “mestiça” certamente corroboram dois aspectos apenas relativamente distintos entre si. O primeiro se refere à minha formação, ocorrida na então única graduação em arte de Pernambuco, um curso de licenciatura em Ed. Artística que, por conta da demanda artística local, coloca, simultaneamente ao foco no ensino da arte, grande ênfase na formação de artistas. Assim, posso dizer que, em alguma medida, apesar de ter adentrado o curso já com a intenção de ser crítica de arte, tive uma formação de artista.
O segundo aspecto que contribui para a tal hibridização existencial diz respeito a um posicionamento ideológico um pouco mais claro, que incorpora dimensões éticas, estéticas e políticas, e sobre o qual vou aqui me deter ao intercalar minhas experiências pessoais à pequenina história da Tatuí, revista de crítica de arte da qual sou uma das editoras, e que surgiu em Recife, em 2006. Assim, começo com uma breve contextualização.
No periférico Recife onde resido e trabalho, a crítica de arte – praticada ao longo do século XX em grande parte por escritores, poetas, sociólogos, jornalistas e artistas – tem estado nos dias de hoje (assim como em todo o País) intimamente atrelada às instituições locais, espaços onde o pensamento de seus gestores-críticos-curadores se personifica sobretudo por meio da curadoria, consolidando a formação dos mesmos ao passo que legitima um território para a reflexão crítica.
Os esforços críticos de outrora – sobretudo aqueles das décadas de 1920/1930 e 1970/1980, vinculados à imprensa “oficial” e, mais raramente, a revistas independentes de cultura – sofreram, portanto, notável transformação em seu meio e conteúdo. Antes comprometidos com a afirmação de uma identidade para as artes visuais de Pernambuco (como buscou fazer Gilberto Freyre, por exemplo), hoje nossos pouquíssimos críticos têm se comprometido, por sua vez, com a constituição de um campo – de penetração nacional – cada vez mais profissionalizado para a arte, dedicando-se ao fortalecimento de instituições e políticas públicas para a cultura, na intenção de articular e oxigenar a produção artística local não ao debatê-la em suas referências e características, mas, genericamente, ao fomentá-la em termos financeiros e de legitimação.
Parece-me, portanto, que a crítica processa um deslocamento de sua função de “debatedora ontológica” da arte na direção do estabelecimento de uma relação mais socialmentecom ela compromissada. Nesse sentido, no Recife, a relação entre os críticos de arte e os artistas tem se dado cada vez mais mediada pelo aparato institucional ou de mercado (sistema social da arte), cujas demandas são pretexto para uma aproximação que, de outra forma, talvez sequer existisse. Desse modo, tanto quanto interface entre o público e a arte, o meio institucional tem sido, também, a interface central entre a arte e a crítica (ou preponderante parte dela). Ainda assim, apesar de tamanho condicionamento institucional, não são raros os discursos proclamados por críticos e curadores que afirmam estar a crítica de arte mais próxima do que nunca à produção artística, discurso esse que me parece paradoxal e problemático.
Foi nesse contexto onde a crítica, para além de sua natural condição a posteriori, tem se somado, ademais, à mediação institucional, que surgiu aTatuí, na intenção de ser, para além de um meio de veiculação do pensamento crítico de seus participantes, sobretudo um experimento de crítica de arte. Dispostos a constituir nosso pensamento crítico num vínculo enfaticamente mais estreito com a arte e com os artistas – e, portanto, sem buscar na mediação institucional um pretexto de aproximação –, nós, alguns dos “jovens críticos” do Recife, criamos a Tatuí como espaço de experimentação coletiva do que chamamos de crítica de imersão, título cujo objetivo, mais do que identificar um conceito ou modalidade específica de crítica de arte, foi o de sublinhar as condições peculiares nas quais os textos que viríamos a escrever surgiriam. Explico-me.
Em 2006, no contexto da Semana de Artes Visuais do Recife – SPA, propusemo-nos a acompanhar os trabalhos desenvolvidos ao longo do evento, sobre eles refletindo e escrevendo para, no último dia, lançar um fanzine com nossos textos. Assim, em seis dias de SPA, vimos/assistimos/participamos de vários trabalhos apresentados por todo o Recife, sobre eles debatemos e escrevemos, desenvolvemos a identidade visual da Tatuí, imprimimos e fizemos seu lançamento. O SPA foi especialmente escolhido por sua profusão de atividades e seu caráter informal e entusiástico, constituindo-se num momento propício à realização do experimento que então nos animava: tomar contato direto, presencial e íntimo com a produção artística, forçar o corpo à exaustão e, nessas condições físicas e mentais específicas, produzir uma crítica de arte que, esperávamos, carregaria características estreitamente relacionadas àquele contexto, cumprindo, assim, função arejadora em nossa formação, como informava o editorial daquela primeira Tatuí, intitulado “glub, glub, glub”:
(…) Almejando dar uma sacudida em nossa afoita e ainda imatura pulsão crítica é que fazemos este fanzine, apelando para o nosso corpo para ver se, esgotando-o, esgotamos também nossas prévias formatações de pensamento, abrindo espaço para um discurso mais verdadeiro e autêntico. Para concretizar esse esforço (físico, mental e espiritual), nada melhor do que o SPA.
(…) Os textos que aqui estão são, portanto, textos cujo distanciamento crítico em relação ao suposto “objeto de análise” tende ao zero, palavras escritas no correr da Semana – algumas ainda durante a realização dos trabalhos. Enfim, uma pretensa crítica de imersão.
(…) Perdoem-nos a esquisitice do nosso nome – Tatuí –, apelido daquele bichinho que vive imerso no solo, escavacando o que encontra pela frente e sobrevivendo às custas das bolhas de ar derivadas de sua ação de revolver a terra.
É na ânsia de revolver a nós mesmos que aqui nos colocamos. Esperamos conseguir, sinceramente, produzir as tais bolhas de ar…
A crítica de imersão – experimento e estratégia de construção crítica que viríamos a repetir no ano seguinte – estava animada, ademais, pelas idiossincrasias de nossa posição diante do campo artístico;em especial, a graduação em arte, a relação informal e consideravelmente íntima com os artistas de nossa geração e de gerações próximas e, em particular, no meu caso, uma “prática artística” voltada a performances de longa duração, baseadas na concepção de exaustão física e simbólica. O protagonismo do corpo e a busca pelo contato íntimo entre entes diferentes nortearam os nossos instintos críticos. Assim, dispusemo-nos a perseguir as ações dos artistas participantes do SPA, vivenciando suas propostas e a pulsação da cidade, buscando incorporar em nossas observações os dados sensoriais e subjetivos das relações estabelecidas, dando vazão a considerações surgidas a partir da “cumplicidade” travada na vivência da obra que, de outra maneira – como através de uma mediação institucional – nos parecia impossível de ocorrer em plenitude. Correr atrás dos artistas, simbólica e literalmente, tinha, para nós, caráter ideológico, ético e político.
Ao nos desfazermos da obrigatoriedade do distanciamento crítico que, apesar de nos ter sido ensinado como eficaz metodologia para a crítica de arte, parecia impossível diante de nossa inexperiência e falta de repertório e, mais, bastante deslocada diante do campo da arte de Recife – profundamente informal, marcado por relações pessoais e por um instinto de cooperação que tem congregado artistas sobretudo ao longo das últimas seis décadas –, optamos por ousar desenvolver um pensamento crítico que não se apoiasse no distanciamento, mas na imersão e na aproximação à produção que analisávamos, colocando em jogo, inclusive, nosso próprio corpo.
Colocando as coisas de outro modo, ensaio afirmar que a crítica de imersão da Tatuí seria um tipo de versão da idéia de experiência estética kantiana em sua capacidade de atuar, nas palavras de José Camillo Osório, um estudioso de Kant, como “abertura singular do sujeito ao mundo e aos outros (…), como se os fenômenos [no caso, as obras] surgissem diante de nós sem que fossem determinados, em sua maneira de ser, por uma expectativa do entendimento, ou seja, eles nos surpreendem e nos fazem falar”. Camillo continua:
A vontade de falar ou de escrever depois do impacto de uma obra é uma forma natural de responder à experiência estética e, uma vez que o entendimento não é aí determinante, nossa imaginação vai atuar de modo mais livre e produtivo. Essa vontade originária de falar, de querer que o outro sinta como nós e compartilhe o nosso sentimento, que é tão própria à existência, vai qualificá-la como solo de nossa comunicabilidade.
Comunicabilidade essa a que se filia inclusive a crítica de arte e que, acredita a Tatuí, é aguçada quando a experiência estética se dá por meio de todos os sentidos de nossa percepção, como ansiamos fazer em nossa crítica imersiva. Mais adiante, levando em consideração nossa “prática artística” – e aqui gostaria que “prática artística” fosse entendida tal qual o seria, por exemplo, a “prática esportiva” de um tenista amador que joga para particularizar uma experiência que, como público de uma partida de tênis, ele teria de outro modo – assinalo que, ao menos para mim, experiência estética é, também, a vivência de, em alguns momentos, estar na posição do autor, daquele que promove situações passíveis de serem experienciadas pelos outros.
Assim, diante de um panorama de crescente “intelectualização do artista”, na contra-mão exercito-me, portanto, numa espécie de “corporalização da crítica”. É que, se o sistema da arte se desenvolveu de forma a racionalizar a produção artística, exigindodos artistas, sobretudo por meio de seus mecanismos de seleção (como portfólios, editais e projetos diversos), uma clareza cada vez maior acerca de seus procedimentos, soluções e problemas – quando não implicitamente demandando lógica e coerência em sua produção –, estou razoavelmente convencida de que é preciso agir na direção contrária. Ainda que tal direção não passe por uma “corporalização da crítica”, não me parece, todavia, que deva seguir o “confortável” caminho da mediação institucional. Entendo que se faz urgente que a crítica se posicione ética e politicamente no seio do aparato institucional que tende a transformá-la numa massa intelectual interpretante que, regada a poltronas, ar condicionado e cafezinhos, recebe em mãos portfólios com a reprodução de obras quase que totalmente “decodificadas” em textos por seus próprios autores, restando-lhe, portanto, um cada vez mais tendente ao zero espaço para a experiência estética, dúvida, incerteza, surpresa, entropia, tesão, e assim por diante. Se concordamos que, como sintetizou Nelson Goodman, devemos deixar de nos perguntar “o que é arte” para nos indagar “quando é arte” – partindo, portanto, para uma concepção mais contingente da mesma –, como esperamos fazê-lo estando restritos às instituições enquanto o “quando arte” só é possível de ser percebido no espaço-tempo da vida, em plena deriva existencial, num possível estado de indiferenciação diante das coisas e movimentos do mundo e da cultura? Deixaremos a responsabilidade inteiramente para os artistas? E, caso sim, caso nos retiremos de tal tarefa, como posteriormente afirmar que somos horizontais interlocutores deles? Como definir, então, a crítica em relação à arte?
Se o que está em questão é a relação entre a crítica e a arte, parece-me evidente que partimos do pressuposto de uma situação de dependência da primeira (a crítica) diante da segunda (a arte), configurando, na mais otimista das hipóteses, um contexto de interdependência entre ambas as atividades, conclusão que às vezes nos traz medos diversos, dentre os quais o já tão apontado temor de uma crítica de arte que não goze de autonomia ideológica – medo recorrente naqueles que enxergam a proximidade entre o crítico e o artista de forma apocalíptica, como espécie de desvirtuação da função da crítica.
Edgar Morin, todavia, numa reflexão sobre ética, enuncia enfaticamente que é preciso ser dependente para ser autônomo. Complexificando a ideia de autonomia, faz ver que, se a dependência tem a ver com a instauração de relacionamentos, a independência também o tem. A independência, completaria o artista (e crítico) Mark Hutchinson, tem a ver, portanto, com um projeto colaborativo. Se, como é amplamente difundido no campo da arte, não é possível nela atuar senão de dentro de seu sistema social – ou seja, se não é possível ser artista, por exemplo, estando fora do sistema da arte – parece ser imprescindível que, para atuar de forma “independente” (mantendo autonomia ideológica e crítica), seja preciso agir de maneira colaborativa, numa ação que configure, no seio do sistema da arte, um subsistema próprio, pautado em práticas e pressupostos de relativa independência. E não seria essa colaboração um possível encontro existencial entre a arte e a crítica ou, para ser menos delirante, entre o crítico e o artista?
Para os que temem o discurso autoral da crítica e, principalmente, o da curadoria, insisto que minha hipótese não trata de atribuir à crítica o caráter autoral que é tradicionalmente entendido como próprio da arte. Não me interessa assumir, para a crítica, uma idéia de autoria já “sepultada” pela arte.
A colaboração a que me refiro não tem a ver, portanto, com a idéia de um crítico coautor da obra, mas com a de um crítico que prescinde, entretanto, de sua distinta posição social de “especialista em arte”. Explico-me tomando de empréstimo uma reflexão sobre especialização e experts (peritos), elaborada pelo psicanalista Adam Phillips, e que foi por sua vez problematizada, para o campo da curadoria, por Mark Hutchinson.
Em seu livro Terrorsand Experts, o psicanalista relativiza a necessidade humana de especialização ao analisar os danos que a função social doexpert (perito) pode trazer. Para evidenciar também a camada inconsciente do expert, e, portanto, sua incapacidade de deter pleno conhecimento sobre sua especialidade, o autor se baseia na figura do psicanalista e chama atenção para dois momentos das teorias freudianas. Num primeiro momento, teríamos o Freud iluminista, aquele que se esforçava por tornar a psicanálise cientificamente reconhecida, vestindo-a em corpetes objetivantes que vislumbravam corroborá-la como o conhecimento especializado acerca dos processos da mente e, em especial, do inconsciente. Tal concepção previa o psicanalista como aquele que, detendo o conhecimento, deteria também as soluções para os problemas psíquicos postos em questão – tratava-se, portanto, de uma idéia empoderada do especialista, tratado como autoridade. Num segundo momento, continua Phillips, Freud ironizaria seu projeto iluminista da psicanálise, assumindo os limites do conhecimento e do auto-conhecimento, e fazendo ver a impossibilidade da especialização plena, a utopia da constituição do expert. Para esse segundo Freud, o psicanalista não mais curaria o paciente com seu conhecimento, mas, sabendo de sua incapacidade de saber, bem como da impossibilidade do paciente saber (dominar plenamente os meandros de suas circunstâncias psíquicas), esforçar-se-ia por constituir um momento de diálogo, uma conversa sobre aquilo que não pode ser solucionado por meio conhecimento enquanto experiência de observação e normatização dos fenômenos.
Substituindo, no pensamento de Phillips, o termo “psicanalista” por “crítico de arte”, chegaríamos à interessante situação em que o crítico seria aquele que, cônscio de sua impossibilidade de conhecer em totalidade (ou seja, de ser um expert da arte), teria consciência também da incapacidade do artista de saber plenamente sobre o que faz. Problematizando a idéia de especialização no contexto da arte, esse crítico seria não mais aquele que se definiria como sendo portador de grande conhecimento sobre arte, mas aquele que instauraria, com o artista, uma conversa acerca daquilo que nenhum dos dois domina e conhece em inteireza, arte. Dessa forma, destituiria a – inclusive pública – função social do crítico como uma autoridade para tornar a crítica um estado, um espaço-tempo analítico e investigativo que, em projeto colaborativo com os artistas (e com o público), se empenharia na função de pôr-se a conhecer aquilo que lhes escapa ao entendimento.
Esse raciocínio levaria, em última instância, a um curioso projeto de, digamos, “indistinção social” entre a crítica de arte e a produção artística. Se a crítica, por ser uma instância a posteriori da arte, de várias formas precisou constituir um campo que a legitimasse por meio da configuração de circunstâncias de trabalho que a demandassem e, a partir daí, buscou tornar-se autônoma diante da produção artística através de estratégias de afirmação existencial mediante distinção social, pensar num movimento de indistinção social significaria, em certo sentido, repensar tal autonomia em seu modo de operação e, sobretudo, em suas motivações existenciais. Algo similar pode ser dito em relação ao processo de distinção social na história da curadoria, cujas estratégias de legitimação muito recentes no Brasil, por exemplo, têm se articulado de tal modo a re-configurar o sistema social da arte em nível nacional, reformulando-o com base numa lógica licitatória em que grande parte das decisões finais passam a caber a curadores que, assim, retroativamente alimentam o sistema com necessidades que acabam por tornar tais profissionais ainda mais demandados com base em argumentos de especialização (sejam técnicos ou conceituais). Mas, afinal, quais seriam as especialidades de um crítico e, sobretudo, de um curador, que os tornariam experts da arte a ponto de justificar sua plena distinção social dos artistas e, consequentemente, a ocupação de posições de poder mediante a paulatina retirada dos artistas de tais posições, que outrora, ainda que diferentemente, ocuparam? O discurso da especialização seria de fato pertinente? Em que exatamente, senão um especialista das redes de relações do próprio sistema social da arte, um crítico ou curador é expert de modo que o artista não possa sê-lo? Será que, para uma crítica do sistema da arte por meio de uma crítica à crítica e à curadoria, não caberiam as reflexões, também críticas, acerca da idéia do expert tal como anteriormente referidas?
Caso sim, parece-me pertinente falar desse processo de indistinção social que, enfatizo, não tem a ver com a idéia do crítico como coautor face ao artista (ainda que esta seja uma possibilidade). Tal indistinção – que ainda não é muito clara para mim, todavia – teria a ver, sobretudo, com a recusa à plena distinção social entre a crítica e a arte, evitando dotar a primeira da função de especialista da arte e, assim, trabalhando em prol de uma crítica como permanente estado de investigação artística, estado esse que, quando desenvolvido em colaboração com os artistas, tende, a meu ver, a possibilitar a constituição de um espaço de relativa autonomia inclusive diante das rígidas estruturas do sistema social da arte. Nesse sentido, a indistinção tem caráter ético e político. Obviamente, tal tipo de posição não resolve a famigerada crise da crítica; muito pelo contrário, incita-a. E é justamente essa crise, esse estado entrópico latente, que vislumbro como o estado ideal para um crítico, visto que permanentemente o inibe a estar na posição daquele que sabe, impulsionando-o, por outro lado, a buscar conhecer a arte de formas cada vez mais múltiplas e menos confortáveis – onde se encaixaria, por exemplo, a crítica de imersão da Tatuí em sua experiência de “corporalização da crítica”. E é por isso que afirmo, hoje, diante de minha ordem do dia, que não considero estar indecisa entre ser crítica ou artista, mas empenhada em fazer crítica de arte de uma forma outra, a ponto de parecer não saber o que estou fazendo. Em todo caso, para além da advertência freudiana de que nem o paciente, nem o psicanalista sabem plenamente, há sempre a possibilidade de um álibi último, o horizonte cristão do “Pai, perdoai-os; eles não sabem o que fazem”.
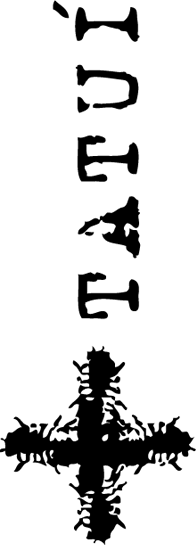

Comentários