O funcionamento dos sistemas sociais sempre me chama a atenção e, dentre esses, me preocupa — às vezes muito — a dinâmica do sistema de arte. Composto por artistas, críticos, curadores, museus, galerias, centros culturais, revistas, universidades, imprensa, etc., o sistema de arte apresenta — como qualquer outro — a intenção inata de manter-se conservado em sua própria organização. Como um organismo, busca sempre manter-se autônomo e, sobretudo, onipotente e onisciente em relação à arte (seu ambiente): a esse sistema interessa a manutenção do poder de indicar e legitimar quem são os artistas e, portanto, o que deve “merecer” ou não o “título de arte”. Nesse sentido, eu arriscaria dizer que, almejando conservar esse poder legitimador, o sistema de arte possui estratégias de atuação bastante específicas e inteligentes que merecem ser debatidas.
Algumas dessas “estratégias” (que não são necessariamente calculadas, mas, na maior parte das vezes, inconscientemente mantidas) — parece-me — escancaram-se no projeto Estética da Periferia, originalmente concebido no Rio de Janeiro por Heloísa Buarque de Hollanda, Eva Doris e Gringo Cardia. Ao vir a Recife, o projeto produziu: um seminário, no qual se desenrolaram várias discussões acerca do que seria a periferia e sua respectiva estética, além de uma exposição, que foi abrigada pelo Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, local especialmente escolhido porque o projeto acredita que “a arte da periferia deve ser mostrada à cidade [do Recife] em seu maior e mais prestigiado espaço de arte e cultura”
Ainda que haja a sincera e válida intenção de propiciar que um público diferente tome contato com a produção da periferia — provocando um diálogo entre grupos sociais habitualmente apartados de uma convivência mais próxima — a decisão de promover tal encontro, através da mediação de um museu, traz um conjunto de especificidades que torna esse diálogo, a meu ver, muito mais monologal que o intencionado.
A mostra (curadoria de Gringo Cardia e h.d.mabuse) opera um deslocamento de objetos da periferia (seu contexto de origem) para o museu. O interesse de tal deslocamento, muito mais do que propiciar que seja visto um algo não passível de ser conhecido (por impedimentos físicos) de outro modo, é, mormente, promover a inclusão simbólica, no contexto do sistema da arte, desse algo. Ao “transferir”, por exemplo, a grafitagem do Alto Zé do Pinho ao Mamam, para além da intenção de fazer notar tal grafitagem ao propiciar sua “descida do morro” (intenção majoritariamente retórica, pois, no museu, ela será muito menos vista do que é no Alto), existe, sobretudo, o desejo de legitimá-la como arte a partir de sua inserção no ambiente museológico. O interesse maior do deslocamento procedido é, portanto, simbólico — referente à aquisição de um status artístico que, atualmente adquirido necessariamente através da aproximação a críticos, curadores, pesquisadores e outros profissionais capazes de conceder tal valor, é, em vários sentidos, almejado pelo projeto em questão. Ter escolhido o Mamam com a consciência de que ele é o “mais prestigiado espaço de arte e cultura” do Recife atesta, portanto, a pretensão “legitimatória” do Estética da Periferia.
Contudo, para além dos anseios (auto)corroboradores que todos possuímos, como interpretar o fato de que quem está buscando ter suas atividades artisticamente validadas não são seus próprios autores (os “periféricos”), mas indivíduos a elas alheios (os curadores e outros atores “centrais”)?
Muda-se, portanto, o enfoque da ação: não é a periferia que está procurando legitimar-se diante do sistema de arte, mas o sistema de arte que está disposto a conceder legitimidade à produção da periferia. Daí saltam duas importantíssimas questões: quais as motivações dessa disposição tão “solidária/democrática” por parte do campo da arte e que tipo de legitimidade é essa que ele aparenta estar disposto a oferecer?
Sem querer ignorar o real desenvolvimento (proliferação, inclusive) das populações moradoras das áreas — física e simbolicamente — “periféricas” e sua consequente “invasão” — também espacial e cultural — ao que costuma ser considerado “centro”, bem como sem querer abster-me das políticas e éticas notoriamente pós-modernas de descentralização (de conhecimento, de poder, etc.), de diálogo e de inter/multiculturalidade das quais também compartilho, o que me interessa neste texto não é justificar o Estética da Periferia a partir de tais paradigmas inclusivos — argumentação esta que já foi exaustivamente feita e refeita durante todo o projeto em questão — mas, contrariamente, fazer ver algumas das problemáticas implicações (éticas, sobretudo) que nele percebo — implicações essas habitualmente camufladas por discursos como o acima referido.
É preciso, contudo, levar em conta que toda ética — tema principal desta análise — é incerta: o debate ético é, fundamentalmente, o problema da contradição, bem como toda decisão ética é sempre uma aposta, dada a impossibilidade da prévia certeza de seu sucesso. Também todas as ações humanas estão sujeitas a uma imprevisível adaptação aos interstícios da realidade, que pode distorcer seus anseios iniciais — a isso Edgar Morin chamou ecologia da ação: “é no ato que a intenção corre o risco de fracassar” . Assim, ainda que o intuito do projeto Estética da Periferia seja o mais “democratizador” possível, acredito, no entanto, que sua concretização — da forma como tem sido feita até então — desvia-se de tal propósito, mantendo (senão enfatizando) o caráter onipotente dos campos que ele originalmente pretendia desestabilizar: o do “centro” e o da arte.
De acordo com as éticas “politicamente corretas” de nossa recentíssima história, deve-se promover a inclusão social como procedimento democratizador. Incluir aqueles que à margem estão tornou-se conduta-de-ordem e, sem grande senso crítico, expandem-se em proporções assustadoras ações de um governo e de um terceiro setor sedentos por ofertar — sempre com a melhor das intenções, creio — bolsas, cursos e outras ferramentas paliativas que facilitem a inserção dos “marginais/periféricos” no “paraíso” do qual nós, “centrais”, desfrutamos.
Todavia, como já vem sendo debatido em relação às políticas adotadas pelo governo brasileiro, tais ações teoricamente democratizadoras mantêm, para além de seus solidários e sinceros propósitos, um efeito reverso (e perverso): ao vincular a possibilidade de ingresso no “paraíso central” a nós — adões e evas portadores de seus códigos de acesso — geralmente acabamos por aprofundar relações de dependência (e poder) que, mais do que econômicas (relações estas bastante interdependentes, ainda que injustas), são de uma dependência cognitiva. Dessa forma, mantemos nosso posto central irradiador das virtudes do Éden: “vinde a mim as criancinhas!” que, depois de anos de ONG, talvez sequer vislumbrem a possibilidade de não precisar remeter-se — simbólica e cognitivamente — a nós. Não precisam, contrariamente ao que as fazemos crer, incluir-se (em nosso referencial “central”, nosso mundo). É preciso garanti-las o direito à “exclusão”. Ainda que, obviamente, devamos garantir que todos os humanos tenham igual acesso a decentes condições de sobrevivência – e em relação a tais necessidades faz sentido falar em inclusão – não podemos, por outro lado, almejar que todos se interessem pelos mesmos contextos culturais. A real democracia cognitiva (e, consequentemente, cultural, social, simbólica, etc.) não está vinculada, portanto, à idéia de inclusão, mas de autonomia.
Na convivência entre sistemas vivos existe um complexo jogo de forças concorrendo para a organização do conjunto de sistemas como um todo. Ao mesmo tempo encontram-se forças homogeneizadoras (sistemas maiores tendendo a englobar os menores) e forças entrópicas (por exemplo, membros de determinados sistemas atuando de forma a desestabilizá-los, transformando-os, ou ainda, por vezes, dando origem a novos subsistemas). Nos sistemas sociais humanos não é diferente. As forças atuantes sobre uma sociedade como a brasileira, por exemplo, são múltiplas. Nossos diversos subsistemas sociais, em sua co-dinâmica existencial, instauram relações de poder variadas – econômicas, políticas, culturais, simbólicas… São interdependentes os grupos de nossa sociedade (inclusive os sistemas “centro” e “periferia”), e o equilíbrio (e harmonia?) desta resulta do contínuo embate entre os esforços de manutenção da autonomia grupal num opressor contexto de dependência no qual os sistemas maiores tendem a sempre incorporar (“inclusão social”) os menores. O desafio de todo sistema é, portanto, manter-se conservado em sua organização, manter sua autonomia.
Entendendo, então, que a concepção de inclusão social/cultural é perigosa por estimular o desenvolvimento de interações de dependência em detrimento do adensamento das estruturas geradoras de autonomia, atento para o ponto crucial de minha crítica ao projeto Estética da Periferia: ao inserir a produção dos “periféricos” no sistema museológico (que é uma estrutura especificamente “central”) como forma de legitimá-la como arte, o projeto, a exemplo das dinâmicas sistêmicas, instaura uma relação de dependência entre as partes da interação. Ao incluir um sistema (arte da periferia) no outro (arte do centro) de maneira pacífica, sem os sacolejos entrópicos necessários à desestabilização (e consequente mutação) do sistema “central”, o projeto não só mantém como, mormente, enfatiza o caráter onipotente deste. Ao convidar os “periféricos” a penetrarem em sua estrutura, o sistema de arte — através da instituição museológica — perpetua-se, mais uma vez, no centro das relações de poder que indicam o que é ou não é arte e, o que é mais estratégico, o faz à seu modo — antecipando-se à explosão de uma circunstância entrópica que verdadeiramente o colocasse em xeque (como poderia ser, por exemplo, um museu da periferia). Este sistema de arte confortavelmente garante sua posição de poder: saem de seu interior os curadores, as convenções de montagem, as estratégias de reflexão e difusão; ou seja, todas as regras do jogo. Mudam os peões, mas mantém-se o tabuleiro. Os artistas da periferia são, no jogo de forças sociais em questão, somente os “incluídos”, aqueles que foram convidados a entrar, e não os “invasores”, como enunciam os discursos (auto)justificadores do projeto Estética da Periferia.
Acontece, por exemplo, que as placas de Seu Juca, ao serem deslocadas de seu contexto original (a rua) a um museu de arte, adquirem (ou garantem) um status artístico anteriormente a elas não asseverado. O problema, no entanto, não é a mera validação do objeto como arte, mas as implicações geradas quando quem habitualmente tem o poder de dizer o que é ou não arte — o sistema de arte “oficial” (“central”): museus, bienais, críticos, curadores etc. — tem seu poder infinitamente corroborado e mantido. A partir de uma conduta de teórica “inclusão cultural” (a arte “marginal” no museu), o projeto em questão termina por perpetuar a exclusão ao permitir que o reconhecimento (e consequente valorização) daquilo que a periferia produz continue dependendo do centro, ao invés de conceder autonomia para que esta crie suas próprias estratégias legitimadoras, excluindo, assim, o poder daquilo que a exclui (o sistema de arte) — única maneira de acabar com a exclusão. Enfatiza-se, assim, o monopólio de poder dos membros do campo da arte, que se mantém onipotente. Estimula-se a dependência (ao dar voz à periferia através da mediação do museu) em vez de fecundar a autonomia (que seria colaborar para a criação de meios que fizessem soar — sem mediadores externos: autonomamente, portanto – a voz da periferia).
Como dito no começo deste texto, trava-se uma conversa mais monologal que dialógica entre as partes. O centro parece conversar com a periferia em um de seus palcos prediletos de distinção social — o museu — utilizando, portanto, seu particular repertório para selecionar, na periferia, os espetáculos que está disposto a assistir. O poder decisório (curatorial) mantém-se na mão centralizadora que, por sua vez, tudo estetiza. E, estetizando, vai aos poucos retirando o ainda restante caráter político e entrópico dos objetos outrora vivos que, uma vez no museu, encontram-se então adestradamente expostos (e mortos). A curadoria é clara: a mulher da periferia é sensual, rebola, usa calças gang e botas cano longo — as gordas empregadas domésticas, motor de toda uma sociedade, sequer são citadas; os ´boyzinhos´ são bronzeados do sol de Brasília Teimosa, usam piercing e têm cabelos louros e fashion — os garotos anêmicos que pedem esmolas, que insistem em limpar o pára-brisa dos carros e andam sempre com uma garrafa de cola rente à boca também não são nem mesmo fotografados; a periferia tem consciência ecológica e monta bares com decoração de sucata — ainda que os frequentadores de tal bar sejam todos da classe média (eu, sobretudo) e que nele não se ouça música brega, forró eletrônico, ou coisa do tipo. Etc., etc. O que interessa, afinal, é a estética. Importa aquilo que pode comportadamente habitar o imaginário burguês a respeito das excentricidades do favelado, e não imagens que poderiam tirar-lhe o sono em justos pesadelos.
E, não perturbada em seu Éden, fica, à burguesia, a impressão de “missão cumprida”. Cedemos, afinal, nosso “maior e mais prestigiado espaço de arte e cultura” aos “periféricos”. Não importa que eles tenham passado pelo nosso crivo: relevante mesmo é a “certeza de que fizemos nossa parte”. “Agora só depende deles, já demos uma chance, eles só têm que saber aproveitar”. Já podemos dormir com nossas consciências tranquilas. Sobretudo o sistema de arte pode descansar suavemente, sem receios de ser destronado em sua monarquia legitimadora. Também o campo artístico recifense pode orgulhar-se de estar up to date e engajado nas atuais tendências dos discursos de interculturalidade. Estão todos aparentemente felizes — inclusive os artistas da periferia, que contaram com seus quinze minutos de fama. Amanhã, como de costume, tudo voltará ao normal e, o que é mais importante: sem que nada tenha mudado.
É claro que tudo o que disse até então pode estar equivocado. Na próxima abertura de exposição no Mamam, é possível que compareçam, novamente, centenas de moradores da periferia recifense. É possível até mesmo que o museu lhes envie convites e que, a partir de então, eles passem a fazer parte da mala-direta das instituições de arte contemporânea da cidade. É também possível que os adões e evas visitantes da exposição tenham se sensibilizado com o trabalho da curadoria e que passem a respeitar a periferia não em seu exotismo, mas em sua diferença. Quem sabe vejamos Peugeot’s estacionando nas ruas do Alto do Pascoal para que seus proprietários conheçam novas pessoas, abram-se a verdadeiros diálogos mutuamente enriquecedores — além, claro, de trocar a mesmice do ambiente do bar cult-periférico e ecologicamente engajado pela agitação dos botecos onde são abrigados caça-níqueis clandestinos. E, mesmo que nada disso aconteça, terá valido tentar estabelecer um diálogo entre partes habitualmente afastadas (ainda que vizinhas) como o são o centro e a periferia, pois eis a questão que não cala: é melhor não fazer “nada” ou tentar fazer o possível mesmo com a consciência de que haverá falhas, mas também sempre com o intuito de tentar falhar melhor? Sabendo-se da impossibilidade de êxito (pois o problema, de sistêmico que é, não se permitirá corrigir com ações isoladas), deve-se agir da forma que for possível, ou não?
A decisão em resposta a esta questão precisa ser pensada a longo prazo, configurando-se numa aposta. Uma aposta ética. Inspirada pelas idéias de Edgar Morin, eu sustentaria uma ética da resistência — ética do mal menor que, não podendo impedir a existência de um problema, pode, ao menos, tentar impedir seu triunfo.
Abstendo-me das vaidades que, acredito, possui o sistema de arte (do qual eu, como “centro” — em relação à periferia recifense, ao menos — faço parte) e, portanto, admitindo desfazer-me do monopólio em relação ao poder de legitimação artística até então por nós exercido, penso que, retendo as ânsias inclusivas que fazem com que organicamente todo sistema procure arrefecer os pontos entrópicos de seu interior, no desejo de manter-se conservado (no caso do sistema de arte, manter-se uma onipotente instância de validação), pode-se, resistentemente, fortalecer tais esforços entrópicos, de modo que esses, uma vez empoderados, possam realmente causar uma mutação notável no sistema como um todo. Em outras palavras e grosso modo: o Mamam poderia, optando por uma ética da resistência, ter reclinado a participar do Estética da Periferia (nos moldes em que foi aqui realizado – ou seja, simplesmente deslocando objetos da periferia para o museu) por acreditar que, fazendo-o, estaria, em detrimento de relações de dependência, estimulando o desenvolvimento autônomo da produção cultural periférica que, uma vez mantendo seu ritmo exponencial de crescimento, chegaria, por sua vez, a constituir-se num sistema tão forte e estruturado quanto o próprio sistema da arte, podendo, finalmente, com ele igualitariamente rivalizar e gerando, assim, uma outra possibilidade de legitimação artística que não a do sistema “oficial” de arte (até agora onipresente). Excluir-se-ia, assim (teoricamente), através do adensamento de uma outra possibilidade, aquilo que atualmente exclui.
No entanto, como este raciocínio é apenas uma aposta que, como toda ela, está à mercê da sorte, é preciso esclarecer que minha sugestão por uma ética da resistência vem não de uma concepção ética de responsabilidade — que estabelece compromissos — mas de uma ética da convicção, que os recusa. Resistir à tentação de abrigar o Estética da Periferia seria uma escolha tomada com base numa convicção ética (e política) de que a arte e seu sistema social podem (e em certos momentos, inclusive, devem) ir contra a cultura (no caso, os já referidos discursos de tolerância cultural) — convicção esta que claramente se opõe à idéia de “responsabilidade social” embutida na política e ética gerais do projeto que, de bom-tom, aposta na imediata, efêmera e unicamente simbólica inclusão da produção da periferia no museu (por mais excludente que este procedimento possa vir a se revelar). Desconfio, no entanto, que têm faltado convicções éticas aos membros do nosso sistema de arte que, majoritariamente, têm se pautado numa desenfreada ânsia de inserção de tudo em qualquer coisa ou de qualquer coisa em tudo.
O que no fundo me interessa, ao falar em uma ética da resistência, é analisar criticamente as implicações éticas e políticas do projeto Estética da Periferia e do respectivo comportamento do nosso campo artístico, atentando para desfazer nossos discursos autojustificadores, nossos autoenganos — que, às vezes, vaidosa e insistentemente, teimamos em converter em enganos públicos.
Ressalto, portanto, minha intenção primeira de chamar atenção para as questões éticas deste projeto que, para além da estética ou da arte, têm profundas implicações sociais. Nele, a partir da arte está em jogo um conjunto muito mais complexo de aspectos sociológicos, antropológicos, políticos, históricos, econômicos, éticos, midiáticos, etc., norteadores das relações travadas entre os indivíduos e, mormente, entre as classes sociais. O Estética da Periferia é apenas um exemplo de como tem se tornado cada vez mais urgente que, saindo de nosso fechamento egocêntrico, tornemos a responsabilizar, ética e politicamente, nossa arte e seu respectivo sistema social. A responsabilidade existe, ainda que fragmentada, e urge que, em consequência desta responsabilidade dividida, não diluamos a culpa entre os vazios do sistema. Entropicamente, culpemo-nos! E, contendo nossas ânsias e vaidades, resistamos quando preciso for.
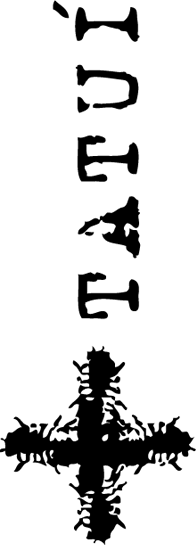
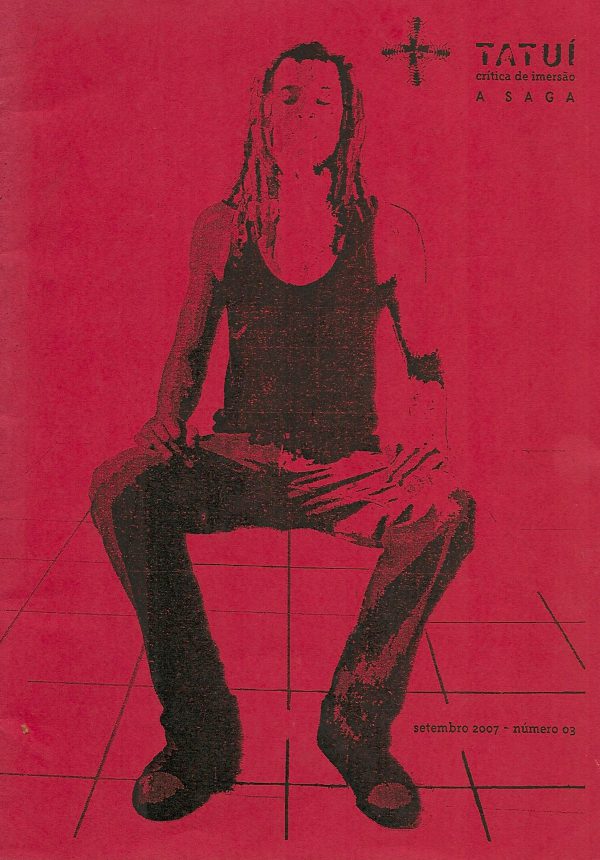
Comentários