“Eu não sei o que é forma”: experiência, pensamento, crítica, história, e a necessidade de “banir o formalismo” – entrevista com Ronaldo Brito.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2012.
Tatuí | Como comentamos, a Tatuí 14 gira em torno do problema da forma.
Ronaldo Brito | Eu acho que esse é o problema.
Tatuí | Talvez um ponto de partida, aproveitando o campo de pensamento ao qual você está dedicado desde sempre – o de pensar a modernidade na perspectiva da contemporaneidade –, seria você falar um pouco sobre a forma enquanto problemática moderna, e enquanto problema, digamos, contemporâneo. Que tipo de continuidades, que tipo de descontinuidades, rupturas, encruzilhadas têm sido atravessadas?
RB | Bom, de uma maneira muito esquemática, e a cada dia mais problemática, vamos partir do pressuposto de que identifico contemporaneidade e experimentalismo. Com o experimentalismo dos anos 1960, que chegou até os anos 1970, dentro do qual me formei. Mas não tenho nenhum saudosismo experimentalista, o que seria um contrassenso. Não estou pedindo esse experimentalismo de volta. O que a gente poderia dizer que unia movimentos, em grande parte antagônicos entre si, como o minimalismo e a arte povera (para citar dois que com certeza influenciaram muitos artistas brasileiros)? A crítica ao idealismo formal, o idealismo da forma e todas as suas ilações, e projeções, podendo culminar, por exemplo, numa utopia construtivista – na utopia da Bauhaus – e configurando um movimento de plena autonomia, que já se revelava problemático em 1960/70 (embora eu só tenha começado a viver isso a partir de 1975). Essa crítica ao idealismo formal estava ligada ao processo maciço de institucionalização da arte moderna, que já não podia – sob o risco de má-fé – achar que era alguma coisa do reino da boêmia, fora do mundo da produção e do consumo. Porque nós já estávamos tratando com uma arte moderna institucionalizada, mercantilizada, e mesmo os movimentos experimentais – os norte-americanos, sobretudo – eram prontamente mercantilizados, institucionalizados, decifrados e teorizados. A crítica a esse idealismo formal passava pela discussão do próprio conceito de arte, como ocorre na arte conceitual.
O conceito de instalação veio daí, sem dúvida. Em função de quê? Da necessidade de destruir o dualismo tradicional, para que os trabalhos tomassem aspecto material, efetivo: instalar significa não aceitar conteúdo/ continente, rejeitar a contemplação, a distância entre sujeito/objeto, enfim, mobilizar um lugar. Uma topologia prática: o trabalho é uma intervenção enquanto lugar, o que inclui desde as suas características físicas até suas inscrições ideológicas e simbólicas. Daí a dificuldade de chamar o que hoje, correntemente, passe por arte contemporânea – o conceito de instalação virou algo banal, 90% das instalações que a gente vê são cenografias, a maioria, baixa cenografia. O contrário daquele experimentalismo – até do projeto moderno que era a conquista de uma dimensão, de um plano, sem perspectiva central, nada desse decorativismo psicológico que traz imagens prontamente comunicáveis e que não ataca o problema da forma. Outra questão, que deixo em suspenso por agora, é a eventual potência estética, potência poética daquele experimentalismo original. Se de fato – e até que ponto – ele marcou uma ruptura em relação ao idealismo formal moderno. A gente tende – talvez para contrapor a um conceito de arte tão risível quanto o que está em vigência hoje –, ao contrário, a ver muito mais aquele experimentalismo como uma continuidade do projeto moderno (que sempre teve por móvel a autocrítica) do que alguma coisa próxima à arte dita contemporânea agora hegemônica. De certa maneira até preparou, porque com essa abertura da forma – com a forma aberta, destinada ao público –, ela acabou por engendrar uma arte publicitária. De fato ela queria ser pública, o problema é o modo como ela veio a ser pública. Hoje artistas – por exemplo, como Donald Judd com seus ObjetosEspecíficos – tomam lugar dentro da tradição da grande forma moderna.
Tatuí | Quando você fala de “querer ser pública”, você distingue algum momento (sobretudo na modernidade) em que essa intenção da arte ia claramente no sentido oposto ao do público?
RB | Não, não claramente oposto. O que acontece na dita arte construtiva – no idealismo formal construtivo que culmina no projeto da Bauhaus de “Espiritualizar o Cotidiano” – como na dita antiarte, misturando a arte e vida, é uma demanda de transformação da arte a partir de sua efetivação pública. Isto se realizou – ironicamente, mais uma vez – quase como uma traição desse projeto. Hoje é mercadoria dócil da indústria do lazer e do turismo. Esse conceito de instalação e a ideia do “Viver no Plano” de fazer tábula rasa da história e da perspectiva (uma ideia muito americana, contra a qual surge um Joseph Beuys…), de deixar para trás todo o passado e viver a experiência do plano, tudo isso era a antítese desse virtualismo anódino que caracteriza o meio de arte hoje. Falta, justamente, a instância crítica.
Por outro lado, é evidente que havia também ali uma utopia irrefletida. Seguia, sem perceber, a inconsciência moderna: a história sempre haverá de pesar. Daí a força da emergência de Beuys: trazer para o cerne dessa linguagem desestruturada contemporânea o problema da história. E a origem romântica da obra de arte moderna, o conflito entre o destino da imaginação num mundo secular, até como substituto da religião, e o caráter patrimonial que foi determinando a arte moderna. Digamos, o autor como proprietário.
O “Viver no Plano” inscreve toda essa contemporaneidade naquele élan moderno, com tudo que tinha de positivo. Mas a história foi desmentindo essa pulsão emancipatória de viver no plano, mostrando como também ela é parte de uma historicidade que não consegue, na medida mesmo em que é historicidade, enxergar todo o campo de ação no qual atua. Nesse sentido, aquele experimentalismo acabou também uma utopia da forma.
Tatuí | Aproveitando sua fala acerca dessa situação histórica e de uma certa estrutura de contingência que é inevitável e que está posta como problema para todos os artistas, você poderia comentar a relação entre um “pensamento formal” e o “formalismo”, considerando o formalismo como esse pensamento (inclusive filosófico, jurídico) que, sendo diferente do formalismo em arte (gostaria que você problematizasse um pouco essa diferença entre um formalismo genérico e o formalismo na arte), se diferencia também do “pensamento da/sobre a forma”?
RB | Formalismo virou adjetivo e, em geral pejorativo. No experimentalismo, uma das questões era se livrar da metafísica criacionista, da metafísica coisificada, que interpreta tudo em termos de forma e matéria; como a razão ocidental iria se livrar de sujeito/objeto, de forma/matéria. O que gera todo o impasse, como você pode distinguir uma coisa de uma obra de arte, se ambas são feitas de forma/matéria? O que remete ao antropomorfismo grecoromano e à metafísica criacionista cristã. Em geral se coloca forma/conteúdo, o que ainda é mais rasteiro, uma interpretação tão banal da forma… Beuys fala, por exemplo, “a forma é o pensamento”. Forma (Eidos) era sinônimo da ideia. Interpretar forma como invólucro, como envelope, é viável. É melhor começar a ler Adorno, distingue pelo menos conteúdo de mensagem, de intenção, e tudo o mais. Forma, evidentemente, é o pensamento. Intrinsecamente vinculado ao tratamento, digamos, da matéria, desmentir a caracterização dualista matéria/ forma. Uma das características da arte moderna é a espiritualização da matéria. Matéria não é coisa. Forma tampouco é o que conforma a matéria.
A acusação de “formalismo” sempre vem em nome da instrumentalização do trabalho de arte. Eis aí, a meu ver, o núcleo do pós-moderno. Instrumentalização de arte que dissolve o trabalho de arte em discurso cultural. A partir daí, o momento do voo cego da obra de arte – o que a distinguia do pensamento instrumental, da lógica custo-benefício, e lhe imprimia o da transcendência na imanência, fica parecendo metafísica porque não se insere num discurso social prontamente reprocessável. Aí aparece o que você chamou de “conteudismo”, se o trabalho não produz uma fala acerca de identidade, gênero, crítica social, enfim…
Tatuí | … com a questão das questões…
RB | … Se ele já não vier falado, vira “formalista”. E os seus defensores, elitistas. Ou metafísicos arcaicos. Isto é a instrumentalização – a linguagem do trabalho de arte passa a ser produzida na forma da mercadoria, sob a forma dominante do discurso de comunicação social e se esgota nesse processo. Já encontrei curadores que só conhecem isso e esse pós-moderno como (ou tal versão do pós-moderno) realmente liquida o salto de transcendência que caracterizava a grande arte moderna. Ela agora parece suspeita, arte que tem que ser de pronto consumo.
Tatuí | E você consegue situar historicamente, ou circunscrever, no Brasil, em que momento essa leitura pejorativa da forma se transforma em formalismo?
RB | O Brasil, como sempre, é mimético. Aquelas coisas não ocorrem de dentro para fora, vêm de fora para dentro. Esse processo é indissociável da globalização, é indissociável do fato que o Brasil – bem ou mal, periférico ou não – é parte desse grande mundo, a grande rede. Não acredito que tenha sido movimento autônomo da arte brasileira, acredito sim – mais e mais, o que está acontecendo com alguns espécimes – que a valorização dessa arte brasileira é engendrada lá fora. A gente pelo menos escolhia os nossos artistas; em geral, escolhia mal, mas escolhia. De um tempo pra cá, muitos artistas são feitos de fora para dentro. Aparentemente isto é inevitável. Mas acho também que há muitos artistas trabalhando (inclusive jovens) em atrito com tal situação; não é fácil, porque não existe mais aquela distância protetora entre produção e consumo. Ao contrário da minha geração, onde o problema da modernidade podia se vincular com a contemporaneidade – e isso foi muito produtivo, estar ali em contato com Mira Schendel, Sérgio Camargo, Amílcar de Castro, Lygia Clark… – A contemporaneidade se misturava com o desejo da afirmação de nossa verdadeira modernidade, no país dos Di Cavalcanti e dos Portinari, ou seja, o país das contrafações.
Tatuí | Em relação a essa culturalização, a essa conteudização do pensamento formal brasileiro ali dos anos 1950/60, você percebe que essa leitura “de fora” é menos culturalizante (ou mais culturalizante) dessa produção do que a leitura que se tenta fazer aqui?
RB | Sempre culturalizante, sempre demandando, por incrível que pareça, os chavões do imaginário tropical, o imaginário do colonizador. Não há nenhum pensamento da forma, há o contrário: a aceitação da forma vigente, não só da mercadoria, como da forma vigente do processo comunicacional em um mundo cada vez mais interativo superficialmente. E não há crítica eficaz, sem uma crítica sobre o seu próprio modo de ser. E esse seu modo de ser envolve o que a gente continua chamando de forma. Embora essa forma não seja mais a gestalt, não seja nenhuma unidade. Acho que há um ensinamento nesse processo de fim da teleologia da história da arte moderna. Mesmo grandes historiadores só faziam “história da arte” europeia, a que se afinava com as articulações daquele momento, naquele lugar. Nesse sentido a arte brasileira ficava sempre como um momento defasado, deslocado. Não pode ser assim a história da arte, não é assim que se lê esse a produção. É um pouco basbaque, mas a gente fica satisfeito quando vê um ObjetoAtivo de Willys de Castro ao lado do BroadwayBoogie-Woogie de PietMondrian, no MoMa. E ele aguenta. Eu não vi (vi só a imagem), mas amigos meus foram lá e disseram; “o Willysaguenta”. Não é de se surpreender, porque ele era um grande artista e trabalhava num modelo de linguagem – com tudo o que isso envolve, porque não é nada simples – de Mondrian.
É ótimo, agora, ainda falta muito. A ideia não é ter retrospectivas de artistas brasileiros e sim artistas como tais. A renúncia do questionamento formal significa a renúncia da arte. Isolar a questão da forma seria isolar a questão do pensamento: “pensamento formal” é quase um pleonasmo porque forma é pensamento.
Tatuí | Ou, talvez, numa outra perspectiva – e usando uma lógica sua (quando afirma que “arte é o que resiste à obra” ) –, aceitar o “formalismo” talvez não fosse recusar a arte, mas aceitar plenamente a convenção social “arte”, já que podemos considerar que a forma resiste à arte no sentido de que briga com ela, visto que “forma” ou “pensamento formal” não seriam sinônimos de arte. Então, existe uma tensão aí, um conflito que, ao não se encarar o problema da forma, talvez se transformasse numa aceitação da ideia de “arte”.
RB | Se você renuncia a autointerrogação da forma, você evidentemente repete o mundo que pretende criticar, repete o modo de ser acrítico, não reflexivo, não imaginativo do jovem desse mundo. Não há contradição entre exemplares trabalhos de aparência transgressiva serem também trabalhos de enorme sucesso público. Na verdade, falam a linguagem corrente da forma do mundo.
Tatuí | Sim, e isso nos leva para a relação entre forma e ideologia…
RB | É, claro. Arte formalista não é aquela que se concentra na forma, arte formalista é a que não reconhece o dilema da forma – ela é só decorativa – mesmo quando supõe que é denúncia, protesto e lamento.
Adorno fala de um “formalismo crítico”, ele que era um grande esteta, um crítico feroz do capitalismo. Não sei nem se aceito isto porque já é ceder muito a palavra “forma”, mas com isso ele via a diferença, a superioridade de Samuel Beckett em relação a Bertolt Brecht, na medida em que a relação do Beckett com o material era mais livre, digamos, do que o teatro engajado do Brecht, que já cedia à razão instrumental. Parece que não se vê hoje – porque não se pode ou porque não se quer ver – essa brutal instrumentalização da razão: confundir razão com a razão instrumental. E aí a própria questão da ideologia se esvanece, porque tanto faz se é esta ou aquela, se você manipula isso na ordem de uma razão instrumental, então toda essa crítica ao formalismo é uma defesa inconsciente (ou de má-fé) da razão instrumental. Por que não é mais possível eu me entregar a Matisse por Matisse? Ele tem mais potência crítica do que a enorme maioria dessa arte que a gente vê por aí, que não passa de comentários, ociosos e desnecessários, porque ninguém precisa de arte para se inteirar sobre o curso do mundo. Apêndice de livros de divulgação de sociologia e psicologia. Essa entrega, seja no processo do fazer, seja no processo do experimentar – e essa talvez seja uma palavra-chave, experimentar, é justamente a antítese dessa instrumentalização. Entregar-me a uma experiência é não saber onde ou como vai se processar essa experiência. Senão, serão sempre os passos marcados de uma metodologia – um aprendizado, didatismo. Essa é outra das ironias, a de que a crítica institucional mais ou menos latente em todo esse previsto experimentalismo transformou o trabalho num veículo anódino, estéril, e com isso cedeu à própria instituição.
Outro risco corrente é o da arte tornar-se uma rubrica a serviço de uma insaciável voracidade teórica. Tive recentemente algumas experiências em palestras – inclusive com pessoas mais jovens – que submeteram, ironicamente sem querer, a arte a uma articulação conceitual em que ficava faltando justamente a experiência do trabalho, ou seja, o começo de tudo. Desde o momento em que rege o curador – mediador entre a obra e o público –, o trabalho falado não é passível de experiência, a condição institucional do espetáculo o esvazia. O momento cego de embate com o trabalho. E uma das formas de esvaziar esse embate é o discurso acadêmico, que procura articular o mundo do imaginário a instâncias teóricas, experiências. Eu me assustei ainda outro dia com um jovem falando de Foucault e Deleuze (meu Deus do céu!, isso era da minha geração…!), e continua a militar num mundo imaginário onde a arte toma lugar numa constelação que, evidentemente, não está mais vigente. A questão do crítico e a questão da arte começam com a experiência do trabalho. E o dilema é que isto permanece no Brasil quase irreal; a experiência qualificada da arte veio sendo conquistada a duras penas pelos próprios artistas, pelo público, pelos críticos. Mas é uma experiência que, mal começou a acontecer, parece que já está desacontecendo. Porque a arte ameaça diluir-se nesse movimento midiático que é o exato oposto dessa experiência. Eu não estou dizendo que não possa haver uma experiência dessa ordem, ou de qualquer ordem do mundo digital – tem que haver uma realidade estética disso. Até segunda ordem, porém, acho que ela está neutralizando a experiência material da arte sensória. Porque, veja, em toda essa crítica que se faz ao formalismo, só nos deparamos com prisioneiros da metafísica do sensível e do inteligível. Continuam, aparentemente sem desconfiar, sujeitos dessa metafísica. Se houver uma coisa que a arte moderna provou foi o paradoxo da plena inteligibilidade do sensível. Problemas árduos para toda a filosofia, e o lugar onde a própria filosofia aprendeu a desaprender, síntese de um paradoxo, que chocava Platão; o sensível, a “aparência” concilia a “essência”. A filosofia consegue se aproximar – Kant abre esse problemático universo – aos tempos modernos. Mesmo Kant imagina ainda que o belo, a arte, cabe num juízo, por mais que esse juízo seja, como o é em Kant, reflexionante, aberto. Mas a experiência da arte não cabe em juízo nenhum. Quando a arte não desafia o conceito, ela se rende à metafísica da forma e da matéria, cansativo dualismo. A razão instrumental de modo algum supera a metafísica; ao contrário, todo mundo sabe, é o produto acabado dessa metafísica.
Voltando à questão das rubricas, outro dia ouvi Roberto Conduru dizer uma coisa engraçada: os novos artistas repetem a tradição acadêmica, em que você tinha que se exercer em todos os gêneros: o nu, o retrato, a natureza-morta, a pintura histórica e, eventualmente, terminava pintando um grande painel acadêmico… Só que agora é o vídeo, a fotografia, performance, a terminar talvez numa grande instalação… É uma nova academia, um novo protocolo acadêmico porque feito com regras a serem seguidas, pré-dadas, um repertório a ser cumprido. O repertório são as “questões” que invadem o cotidiano da cultura globalizada.
Outra patente, constrangedora, é como muita dessa arte que se pretende crítica social de gênero é egóica, um decorativismo psicológico, um psicologismo que se confunde com o sociologismo. O que é difícil de aceitar é a perda de substância – pelo menos num nível aparente – da arte moderna, da força intrínseca da arte moderna. Se há algo contraditório com o espírito moderno e contemporâneo, é o saudosismo. Não estou pensando em revigorar o experimentalismo; se eu pudesse, ia ver a city de Michael Heizer, não iria à Bienal, porque é chata. Não é lugar para quem gosta de arte. Se for, é pra ver o trabalho de x ou o de y… Aquilo ali é shopping center, não é?
Tatuí | Você costuma situar o problema da forma em termos geométricos, topológicos, de tempo, de espaço – também políticos, ideológicos – em suas análises, que são majoritariamente calcadas em pintura, escultura, gravura, desenho… Queria perguntar como você vê essas instâncias, esses problemas formais, em outras linguagens.
RB | Essa é a questão, porque, na verdade, a maior parte dos artistas brasileiros da minha geração não chegou a produzir grandes instalações. Eu diria – e eu posso falar isso com tranquilidade porque não escrevi sobre ela – que a instalação EurekaBlindhotland, de Cildo Meireles, foi bem-sucedida, uma das poucas bem-sucedidas. Outra que também funciona é Fantasma, de Antonio Manuel. Era muito difícil, para quem estava ainda absorvendo o processo da forma moderna, conseguir dar esse salto. Mas é claro, que não rejeito instalações; o problema é nossa dificuldade de fazer a experiência de verdadeiras instalações.
Tatuí | Você escreveu sobre Nelson Felix, não é?
RB | Escrevi. Até agora, tem sido um trabalho bom. É todo um percurso, um trabalho contemporâneo de que eu gosto muito, um desafio crítico porque escrevo sem ter visto a obra pronta. Escrevo na antecipação, o trabalho pronto chega depois. Depois é que eu vou ver o que acontece.
Tatuí | E como é essa experiência?
RB | Foi uma experiência boa justamente porque foi uma experiência. Creio que está na minha área de competência. Mas a maioria dos vídeos que vi… Nunca fui muito um cara de cinema, a questão do vídeo me desmobiliza muito, fico meio imobilizado. Mas trabalhar com alguma coisa que ainda está se materializando, que lida com o imaterial, não tem problema nenhum, porque está na ordem da imaginação crítica. Tem que ser feito – como foi feito no nosso caso – segundo um conluio poético. Não foi um relato aposteriori, foi vivido ao longo de dois ou três anos, com intensos encontros periódicos.
Uma coisa inevitável é que para o crítico de arte contemporânea entra também em questão a relação do artista com o trabalho. Uma relação bonita do artista com o trabalho – ninguém é Deus para ver do alto – influencia e inspira o texto crítico, independente do alcance que esse trabalho possa vir a ter. E às vezes uma relação feia com um trabalho forte também desarma, porque o cara pode fazer um trabalho forte, mas a relação que estabelece com o crítico é uma relação funcional, sem graça. A relação do artista com o trabalho faz parte do processo poético da crítica, que vai transparecer finalmente no texto ou na fala. A segunda coisa é que o trabalho atual modifica o trabalho anterior, para o bem ou para o mal. Uma poética consistente – por exemplo, a de José Resende –, um trabalho (como o que ele faz há pouco no MAM-Rio) reilumina a obra, repotencializa o trabalho anterior. Enquanto trabalhos que vão se repetindo ou se esterilizam vão cansando o crítico – aquele trabalho que passa a ser o folclore de si mesmo, a alegoria de si mesmo, vai desmoralizando sua própria história. Quando o artista morre, depois de um tempo, é possível talvez fazer essa separação, o trabalho torna a ficar livre. Mas enquanto o artista atua, um momento de trabalho ruim desvitaliza. Para a nossa sorte até – embora fosse uma situação adversa – a gente pôde viver, por exemplo, um Oswaldo Goeldi, num registro de contemporaneidade, porque inexistiu aqui leitura crítica de Goeldi (apesar do poema do Drummond). Nós é que fizemos as leituras de Goeldi, leituras que continuam em vigência. Até o Guignard, que foi um artista mais palatável, fomos nós (ou seja, minha geração) que demos um sentido moderno a ele. Ainda era tarefa contemporânea, decifrar o Milton da Costa geométrico, por exemplo… No final das contas, como toda arte é contemporânea, toda crítica tem que ser contemporânea.
Há que entender também que toda arte é local, deve ser vista sob certas condições, inexiste universalidade absoluta. É claro que o Brasil não gerou trabalhos matriciais, o laboratório aqui não consentia isso, não é? Picasso era espanhol, mas só é Pablo Picasso porque estava em Paris; em Barcelona, ele não seria Picasso naquela época. Arte é produção social. Temos que olhar nossa arte a partir de nosso laboratório, isso não tem nada de elitista. Toda produção social, de certo modo, é produção de laboratório, o mundo não é um quintal. Quando se fala “Brasil”, parece até que isso existe… O “Brasil” não existe, existem situações históricas articuladas, fluidas, sobrepostas, existe uma língua portuguesa, existem códigos comuns. Mas o Recife, por exemplo, é outro laboratório. A globalização, se for uma autêntica mundialização, ótimo; se for globalização sob o signo do consumo, não tenho nada a ver com isso. Toda arte é pessoal e local, nasce de uma esfera de experiência singular, intransferível, e nisso não vai nenhuma metafísica do eu, o artista não pode sequer escolher seu Sujeito de Arte. Ninguém é o artista que quer; é artista porque não consegue se satisfazer consigo mesmo.
Tatuí | Na relação entre forma e subjetividade, e em suas críticas ao egóico (como também à dimensão terapêutica em Lygia Clark), como você essa interface da psicanálise como forma de leitura da arte?
RB | Eu me interessei, num dado momento, por isso. Estava no ar, era fatal. O risco, de novo, é a ladainha da instrumentalização. Enxergar a arte só por esse prisma. Ninguém deve esquecer que tudo estava envolto em algo da ordem da liberação. Tudo estava inscrito, datado historicamente, na sociedade da norma e da hierarquia, enfim tudo isso que terminou: vivemos a era da permissividade. Nada mais patético do que uma arte transgressiva: transgredir o quê?!
Falava-se, e como, de contracultura… Contracultura num país sem cultura? Contracultura pode ter sido – nem sei se foi – um gérmen produtivo em um país saturado de cultura, mas num país saturado de ignorância como o nosso, contracultura é pleonasmo ou o cúmulo do otimismo. É mais uma importação. Esses artistas foram importantes porque viveram plenamente a dissolução da sociedade hierárquica e o ingresso na sociedade de massas. Agora, as ilusões que os acompanharam também têm que aparecer. O que se realizou foi, fora de qualquer dúvida, a normativização da permissividade. Quem quer de volta o regime da repressão? Ninguém, ninguém é louco. Mas quem é que se ilude: houve a rigor uma liberação efetiva, o homem contemporâneo é um homem mais livre? O quê que isso significa? Isso era a matéria da arte deles, matéria empírica, mas não é isso que vai fazer a arte do Hélio, e nem da Lygia – que, aliás, são artistas dos quais eu gosto, embora lamente a fetichização acéfala de costume. Diga-se de passagem, ambos eram de origem contrutivista, portanto, viveram essa experiência de liberação na clave da forma, numa discussão criativa com Mondrian, Malevitch…).
Tatuí | Mas você não acha que há uma dimensão semântica, sobretudo uma visão da cultura, que impõe outras camadas?
RB | Essas coisas não são estanques, não são dissociáveis em absoluto. Mas não acho que sejam o cerne da experiência da arte. Em geral, as pessoas virtualizam a arte em teoria pela incapacidade de empreender uma experiência real e aberta com arte.
Tatuí | Mas você não acha que esse momento do trabalho de Oiticica, pela relação com nosso corpo e experiência direta com a obra (que não é teórica, mas sobretudo perceptual, fenomenológica), de alguma maneira também não atuava no campo das percepções sobre a cultura em seu presente (naquele presente), sem necessitar amparar-se em teorizações?
RB | Sim e não. Sim, porque aquilo se inscreve em todo um horizonte fenomenológico da experiência e corresponde a um momento poético no percurso dele. Não, porque quando é transformado em exemplaridade cultural, fica ridículo. Não fica menos do que ridículo, esse fetiche. Aquilo pertence àquele horizonte cultural dado. Voltamos aqui ao lugar comum de que “a vanguarda envelhece mal”. Hélio Oiticica, que desempenha uma ação de vanguarda, está envelhecendo mal por conta de leituras insignificantes. Envelhece porque essas leituras só atraem espíritos compassivos, não fomenta a curiosidade sobre o trabalho mesmo. A intenção era repotencializar – estética, poeticamente – a experiência da vida. Mas o que acontece, ironicamente, é a banalização da vida e da arte, o que ocorreu também com a dita participação. Alguém pode acreditar em participação nesse sentido: pegar um Bicho e interagir com ele? Primeiro, já nem pode pegar virou mercadoria protegida.
Então, pode-se reconhecer o conteúdo de verdade histórica e cultural da arte da Lygia Clark. Eu gosto, por exemplo, daquelas coisas – que ela não deixava mostrar, aquelas máscaras todas, objetos de uso terapêutico. Leio aquilo esteticamente. Para mim, faz parte do trabalho. Não sei se vai aguentar ou não. Acho que os Bichos aguentam. E quando eu digo “aguentar”, não é seguindo uma hierarquia: é aguentar a visada contemporânea, olhar as coisas como elas se apresentam. Isto é que é o olhar histórico: um olhar do atual. A história da arte não é o Pantheon, coisa móvel – ninguém mais do que o crítico contemporâneo sabe disso –, pois os trabalhos vão sempre mudando e, nessa mudança, vão se autoanulando ou se repotencializando, vão se reapresentando… Eis a diferença da arte e mercadoria. Antes tínhamos o universo da hierarquia e essa hierarquia, entendida negativamente, era cristalização do pensamento crítico e, como tal, o seu esvaziamento. Agora vivemos no regime da diversidade aparente e da recusa da valoração: toda valoração é suspeita. O que também esvazia o pensamento crítico. A palavra “crítica” significa dividir, discernir, avaliar. Criticar, para Kant, é repor em questão o fundamento. Eis o terror do mundo atual, esse pensamento que identifica, divide, discerne, investiga, pergunta, interroga, diferencia… Ofende o senso comum pós-moderno. A diversidade da dita arte contemporânea não é alteridade, é uma diversidade de supermercado. Diversidade é o que choca a identidade do conceito, desafia a identidade do conceito, e assim desafia o pensamento crítico. Com isso não quero dizer que não existam trabalhos – existem, e muitos – que se autocritiquem, se autoinvestiguem, se exerçam nessa dimensão. O modo como eles são apresentados em geral, no entanto (por exemplo, em bienais), tende a apagar justamente o modo poético desse fazer, que pode ser um fazer de qualquer espécie. Não prego o retorno a uma disciplina qualquer. Até para soprar bolinha existe disciplina. Pode ser uma pergunta ingênua, mas eu me pergunto por que aquele Salto no vazio de Yves Klein a cada ano fica melhor? É uma foto banal, montada… Mas tem um poder! É o que desafia o conceito, aquele Salto… Aquilo é forma!
Essa palavra – “formalismo” – deveria ser banida, porque desmoraliza demais a palavra “forma”.
Tatuí | Mas você não acha que, dialeticamente, a ideia de “formalismo” não potencializa a força da forma?
RB | Como? No sentido positivo?
Tatuí | Porque a concepção de “formalismo”, ao trazer à tona o que há de superficial, frágil, pejorativo, pode acabar demonstrando a potência da ideia de “forma”; algo como “culturalismo” e “cultura”, por exemplo…
RB | Culturalismo, o que é? É o esvaziamento das potências latentes das formações culturais, na medida em que você as engloba num todo dado, sublima suas características numa suposta aceitação das diferenças. Não engana ninguém. Da mesma maneira, o uso desse dito crítico do “formalismo”, acusando o processo moderno de dissociação com o processo da realidade – porque esta é a acusação latente –, ignora a própria forma da realidade. E ignora que não há realidade fora do pensamento da forma. Toda realidade é formada. E é justo por achar que a realidade “é” o máximo do conformismo –, tem necessidade de substância que vem do próprio senso comum, da atitude natural, que domina a manifestação pós-moderna: o público. Se a verdade está no público, no sentido de público consumidor, a gente não pode mais esperar pensamento crítico. Ao que parece a verdade do público, hoje, é a mídia.
Tatuí | Como você vê essas experiências – por exemplo, quando Paulo Sérgio Duarte passa pela terapia de Lygia Clark – que imbricam crítica e corpo numa imediaticidade?
RB | Não sei se penso sobre isso. Todo mundo tem é que aprender e se esforçar para ver com o corpo todo. Ver com o corpo todo, escutar com o corpo todo. Participar, como mexer, é secundário… A experiência de Paulo Sérgio Duarte foi ocasional; até muito mais do que eu, ele dissocia completamente esse momento da terapia de Lygia de sua arte. Outra coisa – para o que teríamos que arranjar um nome – é o quanto esse momento – não só inclusão do corpóreo, mas de redimensionamento poético existencial do corpóreo – é constitutivo do trabalho de Lygia Clark. Tanto que ela fez o que fez, e acabou em terapia. Disso resultou um horizonte terminal para o processo da sua arte que é algo que deve ser incluído na avaliação e na experiência do trabalho. Qual a singularidade de um trabalho que termina antes da vida pessoal? Isso deve ser incorporado. É fácil? Não, não é fácil (se eu fosse escrever um livro sobre o trabalho da Lygia, estaria coçando a cabeça). A terapia dela como uma extensão pessoal da sua aventura plástico-formal, mas não querendo ser arte.
Tatuí | Mas é forma.
RB | Bom, forma, no sentido amplo, claro. Mas a Lygia que eu conheci não estava mais preocupada com arte; ao contrário, ela proibia que chamassem seus objetos terapêuticos de arte. Há uma grande ingenuidade, se não burrice, em querer transformá-la em mártir da liberação do corpo. Como Hélio Oiticica, resumido a símbolo da Tropicália. Volta àquele lugar comum de antropofagia… A grande literatura brasileira nunca foi feita em nome da brasilidade. Machado de Assis, Drummond, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, Clarice Lispector… Olha quantos nomes eu estou citando… São os grandes artistas brasileiros e não Oswald de Andrade – seja lá qual o mérito que ele tenha. Estou falando dos grandes artistas brasileiros: Iberê Camargo, Sérgio Camargo, Amílcar de Castro, Franz Weissman, Mira Schendel. O próprio Hélio, e Lygia, começam por dar as costas ao nosso modernismo, plasticamente incipiente, ideológico e cego. Lygia Clark é o trabalho de arte dela. O que não quer dizer que seja opaco, né? Você vai lá, experimenta o trabalho e faz os nexos que puder. Sem experimentar os trabalhos, sem a pulsão que o trabalho movimenta, o trabalho vira (como acontece em geral) exemplo disso,exemplo daquilo… Como o Abaporu, uma pintura indiferente, o emblema perfeito de não sei o quê, de não sei quem… Aí você pega uma gravura de Goeldi e a terra treme.
Tatuí | Queremos retomar quando você fala que a terapia de Lygia não é arte – e claro, a questão não é transformar em arte ou não –, mas que é forma. Como o seu pensamento é sobre forma, queremos perguntar como você se relaciona com formas que não estão atreladas à ideia de arte… Como é que uma forma para além da arte se relaciona com seu pensamento formal sobre arte?
RB | A pergunta é espinhosa. Primeiro, devo dizer o seguinte: eu não sei o que é forma. Por issopenso todo dia sobre forma. Ninguém sabe o que é forma. Perguntaram-me outro dia se eu acredito em fato histórico. Eu acredito que exista uma dimensão fática – as coisas ocorrem –, não é sóreconstrução virtual. As coisas acontecem. Só que a forma dadaao fato histórico, uma tradição positivista, é visível. Não existe nenhum fato nesse sentido. Todo fato é topológico e está investido de uma simbolização. Todo fato é escrito, reconstruído, redimensionado. Um problema material – para dar um exemplo primário, mas ilustrativo –, é a preocupação do que é a forma na e da história, seja da história da arte ou seja da historiografia em geral. O pensamento sobre a forma da história, a forma de fazer história, é o dilema, posto que a história não segue nenhum curso linear, teleológico. O historiador está sempre às voltas com a forma. Para começar, com a forma da sua escrita. O historiador que escreve mal, mente. Mente historicamente. Escrever mal desmente a historicidade. Ou, pelo menos, desmoraliza a historicidade.
Tatuí | Porque é querer estabilizar a forma, estancar seu processo de invenção.
RB | É, querer transformar esse processo numa propriedade do eu. Numa propriedade intrínseca do eu. E a atividade da crítica – e eu sempre digo isso, para desgosto de alguns –, é uma atividade que passa muito perto do ridículo. É bom tomar cuidado. Chega a ser engraçado como alguns dos meus textos passaram de herméticos a redundantes ao longo de duas, três décadas… Quando foram escritos ninguém entendia, hoje soam redundantes.
Tatuí | Mas isso é também resultado de sua ação na história, efeito da presença de seu pensamento no mundo…
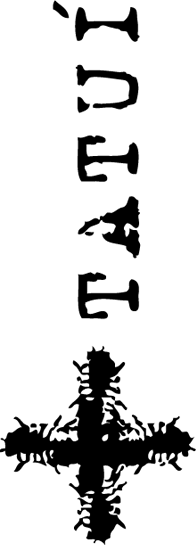
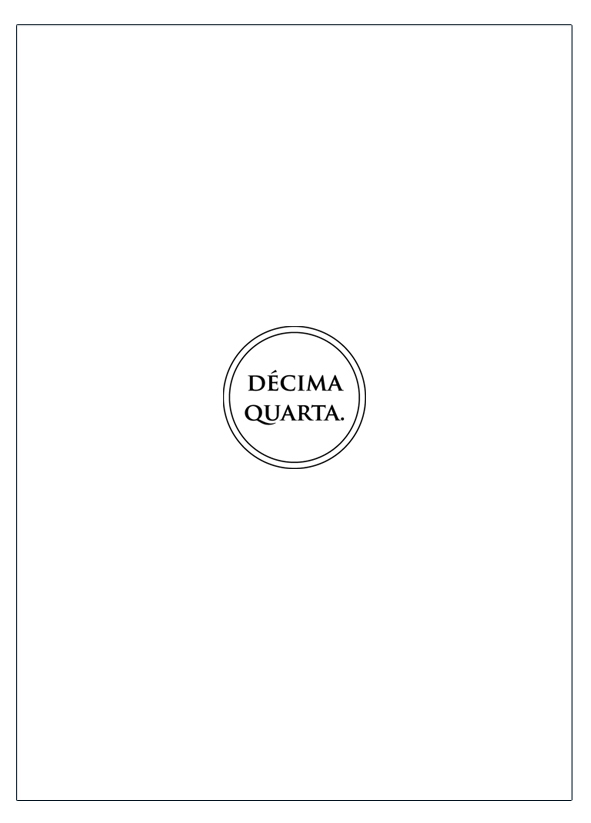
Comentários