AS DESVENTURAS DA COERÊNCIA
Há muito, a procura por coerência na trajetória de um artista é praxe. Coerência tornou-se moeda de valor nos negócios do mundo da arte. A repetição formal e a insistência dos mesmos assuntos acabam assegurando a permanência dos mesmos nomes dentro desse sistema – complexo pela especulação e miríade de instituições e agentes, mas, superficialmente simples no que diz respeito às suas regras.
Já não é mais tão difícil perceber que uma produção intrinsecamente subjetiva foi tomada de um objetivismo em razão do mercado. Mas, deixar-se enquadrar numa trajetória coerente significa, para o artista, hoje, uma maior probabilidade de encaixar-se na engrenagem chamada sistema de arte contemporânea – em que grande parte da produção, antes, poético- simbólica, dá lugar ao fazer artístico estético-conceitual.
O pensamento crítico em torno das novas questões da arte retirou-se do sistema – o que temos atualmente são manifestações isoladas dessa escrita reflexiva. O comum são os textos que justificam a produção de artistas que vivem pelo e para o conceito. A exclusão (prática) do papel da crítica de arte na equação parece ter igualado tudo a zero. Sem muitas variáveis, ficou fácil, cada vez mais, prever resultados. E a arte que, essencialmente, fora inconformada, nos últimos tempos toma a forma que a convencionalidade dá.
É interessante perceber a reviravolta do modus da arte. Antes absorvidos pela problemática político-social, os artistas modernistas exercitavam e desenvolviam seus pensamentos produzindo obras poético-simbólicas dentro de um projeto estético-político que eles mesmos criavam. O caráter contingente daquelas obras acabou assegurando o caráter imanente delas. A propriedade com que essas obras se (im)punham no mundo era a de terem sido criadas a partir do mesmo substrato político-social daquele determinado espaço-tempo. Entranhadas daquela porção contingente, as obras de arte vanguardistas conseguiram transcender seu tempo pela propriedade com que os artistas se entenderam e se posicionaram dentro do processo histórico do qual faziam parte.
A coerência no artista da modernidade não adivinha da repetição da forma e de assuntos em suas obras, mas pela maneira autônoma de lidar com as questões do seu entorno através de sua arte. Ora, o projeto estético era também político. Assim, objeto estético e discurso estavam juntos numa composição imbricada. Daí, o valor da obra de arte estava não só em ser linguagem poética, mas também na possibilidade desta servir na construção de conhecimento coletivo através do pensamento do artista feito linguagem imagética político-simbólica.
É importante ressaltar que forma e assunto inevitavelmente poderiam se repetir na trajetória daqueles artistas da vanguard. Mas esses aspectos eram resultados de um processo intrínseco ao pensamento que ia tomando forma. Era um processo de criação de força endógena. A coerência se encontrava na substância essencial da obra. Ora, para os vanguardistas, a essencialidade da obra estava no aspecto sócio-político (contingência) que o artista transformava em linguagem simbólica (imanência). E a busca desta essência não atrelava o artista à determinada forma. Prova disto são aqueles artistas que fizeram parte, no decorrer de sua vida, de movimentos com proposições estéticas diametralmente opostas.
Hoje, na contramão do pensamento modernista, os artistas se entregam a um processo de criação de força exógena. Ora, o substrato das obras é o conceito. Os artistas de agora estão empacados numa poética notadamente individual (em detrimento do entorno sócio-político) e vão buscar nos conceitos produzidos por outrem (quase sempre pensadores franceses) a razão de ser de suas obras. O atual modus da arte nega a idéia de autonomia. Embalados pelo jeito que a banda toca no sistema mercadológico, os artistas passam a produzir dentro de formas diagramadas – que se dêem a entender através da linguagem escrita e que caibam dentro dos editais e formulários dos salões e programas bolsas-residências.
O apego ao conceito acabou sendo uma maneira de verticalizar a acessibilidade à obra de arte, partindo, sobretudo, da idéia de que o universalismo também garantiria a imanência desta. O caráter imanente da obra de arte acabou se tornando mito e a busca cega por essa permanência sobre o tempo diluiu os assuntos políticos e sociais na produção artística. Imagino que, para os artistas, tirar as questões político-sociais (contingência) do foco de sua poética e deslocá-las para o conceito garantiria ao trabalho deles a imanência pela assepsia. Pois, tendo uma produção artística livre de elementos culturalmente contingentes, qualquer um poderia acessar suas obras em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo.
A assepsia da obra – em nome do universalismo demandado pelo mercado – pôs em xeque, ao meu ver, a mais nobre razão de ser do artista: sua condição de produtor poético-simbólico. A convergência do processo de criação artística para o conceito redimensionou os significados do ser artista e da razão de ser da obra. O artista já não se (im)põe na obra de modo a deixá-la transparecer um discurso próprio. Longe disto, mergulhado num universo individualista, ele foge de um posicionamento político-social e se inscreve como um ilustrador de verbetes filosóficos. Neste sentido, alguns artistas até conseguem manter uma linguagem poética, mas isto fica longe de ser o produtor simbólico, em que seu trabalho passa a re-definir e fazer re-pensar o modus político-social.
Acredito que a preocupação do artista se voltou para a necessidade de ver seu trabalho continuadamente requisitado pelas grandes exposições. Como se a mera exposição também fosse garantia de uma permanência continuada na história da arte. A sede de “se fazer presente” do sistema inelutavelmente desfez a propriedade do artista e da obra enquanto presença no mundo. Pois a perda de posicionamento dentro do seu processo histórico faz com que ambos (artista e obra) deixem de existir como construtores de um pensamento e passem a figurar como ilustradores daquilo que já foi pensado.
Assim, a arte, que chamávamos de poesia simbólica para a humanidade, passa a ser em-si a maior das incoerências: um mero exercício estético-conceitual para um sistema de arte.
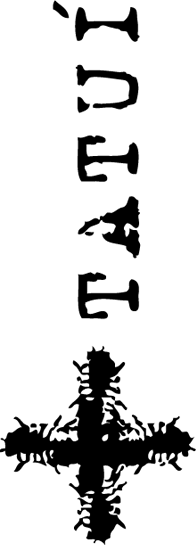

Comentários