Originalmente publicado na revista October n. 110 (2004). Versão em inglês disponível no website da Tatuí.
Tradução Milena Durante
Revisão Clarissa Diniz
O Palais de Tokyo
Na época de sua abertura em 2002, o Palais de Tokyo imediatamente se mostrava ao visitante como sendo diferente de outros centros de arte contemporânea que haviam sido inaugurados recentemente na Europa. Apesar de um orçamento de 4,75 milhões de euros ter sido gasto para converter o antigo pavilhão japonês para a Feira Mundial de 1937 em um “lugar de criação contemporânea”, a maior parte desse dinheiro havia sido usada para reforçar (em vez de renovar) a estrutura já existente . Em vez de paredes lisas e brancas, iluminação discreta e chão de madeira, o interior foi deixado vazio e inacabado. A decisão foi importante, já que refletiu um aspecto fundamental do ethos curatorial do lugar codirigido por Jerôme Sans, crítico e curador de arte, e Nicolas Bourriaud, antigo curador da CAPC Bordeaux (Centre D’Arts Plastiques Contemporains de Bourdeaux) e editor da publicação Documents sur l’art3 – Lewis Kachur, Displaying the Marvelous: Marcel Duchamp, Salvador Dali and the Surrealist Exhibition(Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001).].. A relação improvisada do Palais de Tokyo com seu entorno tornou-se, consequentemente, paradigmática de uma tendência visível entre centros de arte europeus: reconceitualizar o modelo “cubo branco” de exibição de arte contemporânea substituindo-o pelo modelo “estúdio” ou “laboratório” experimental. E, assim, esse formato enquadra-se na tradição do que Lewis Kachur descreveu como “exposições ideológicas” da vanguarda histórica: nelas (como na Feira Internacional Dada em 1920 e na Exposição Surrealista Internacional em 1938) a montagem buscava reforçar ou sintetizar as ideias contidas nos trabalhos .
Os curadores que promovem esse paradigma do “laboratório” – incluindo Maria Lind, Hans Ulrich Obrist, Barbara van der Linden, Hou Hanru e Nicolas Bourriaud – vêm, em grande medida, sendo encorajados a adotar esse modus operandi curatorial como uma reação direta ao tipo de arte produzida nos anos 1990: trabalhos abertos, interativos, resistentes ao fechamento frequentemente parecendo estar “em andamento” ao invés de objetos concluídos. Tais trabalhos parecem resultar de uma má interpretação criativa da teoria pós estruturalista: em vez das interpretações dos trabalhos de arte estarem abertas à reavaliação contínua, diz-se que o trabalho de arte em si é que está em fluxo perpétuo. Há muitos problemas com essa ideia; o mais importante deles é a dificuldade em definir com clareza um trabalho cuja identidade é propositadamente instável. Outro problema é a facilidade com que o “laboratório” torna-se vendável como espaço de lazer e entretenimento. Centros como o Baltic em Gateshead, o Kunstverein Munich e o Palais de Tokyo têm usado metáforas como “laboratório”, “local de construção” e “usina artística [art factory]” para se diferenciar de museus hiper burocráticos cuja base são as coleções; seus espaços dedicados a projetos geram um excitação criativa e uma aura em torno de se estar na vanguarda da produção contemporânea . Pode-se argumentar, nesse contexto, que projetos baseados em “trabalhos em andamento [work-in-progress]” e em “residências artísticas” começam a ficar compatíveis à “economia da experiência”, a estratégia de venda que busca substituir bens e serviços por experiências pessoais encenadas e roteirizadas . Ainda que não fique claro qual é o suposto benefício obtido pelo observador a partir de tal “experiência” de criatividade – que nada mais é do que atividade institucionalizada de ateliê.
Aos projetos baseados em “laboratório” está relacionada a tendência em convidar artistas contemporâneos para desenvolver ambientes (ou solucionar seus problemas) dentro do museu, como o bar (Jorge Pardo no K21, Düsseldorf; Michael Lin no Palais de Tokyo; Liam Gillick na Whitechapel Art Gallery) ou a sala de leitura (Apolonia Susteric no Kunstverein Munich ou o programa cambiante “Le Salon” no Palais de Tokyo) que, por sua vez, os apresentam como obras de arte . Um efeito dessa insistente promoção da ideia de artista-designer, da função sendo superior à contemplação e da inconclusão ou abertura dos trabalhos sobrepujando sua resolução estética é muitas vezes, em última análise, uma ênfase ao status do curador que ganha o crédito por ser o diretor de cena de toda a experiência do laboratório. De acordo com a advertência de Hal Foster em meados dos anos 1990, “a instituição pode vir a ofuscar o trabalho que, de outro modo, seria o destaque: ela se torna o espetáculo, agrega capital cultural e o diretor-curador torna-se a estrela” . Com essa situação em mente, atenho-me ao Palais de Tokyo como ponto de partida para uma inspeção atenta de algumas das reivindicações feitas para trabalhos de arte semi-funcionais e “abertos”, já que um dos co-diretores do Palais, Nicolas Bourriaud, é também seu principal teórico.
Estética relacional
Esthétique Rélationnel [NT – Todas as citações do presente artigo foram traduzidas para o português a partir do artigo original em inglês. Para citações originais, conferir o artigo em inglês – e suas notas – no website da revista Tatuí (www.revistatatui.com).] é o título da coletânea de ensaios de Bourriaud de 1997 em que ele tenta caracterizar a prática artística dos anos 1990. Como houve muito poucas tentativas de se criar um panorama da arte dos anos 1990, especialmente no Reino Unido onde a discussão acaba girando de forma míope em torno do fenômeno dos jovens artistas britânicos, os Young British Artists (YBA), o livro de Bourriaud é um passo inicial importante para a identificação de tendências recentes na arte contemporânea. Ele também surge em um momento em que muitos acadêmicos no Reino Unido e nos EUA parecem relutantes em abandonar a pauta politizada e as batalhas intelectuais dos anos 1980 (na verdade, para muitos, da arte dos anos 1960) e condenam tudo, de instalações à pintura irônica, como sendo celebrações despolitizadas e superficiais, cúmplices do espetáculo do consumo. O livro de Bourriaud – escrito a partir de sua abordagem prática de curador – promete redefinir o que a crítica de arte contemporânea considera importante, já que seu ponto de partida é que não podemos mais abordar esses trabalhos por detrás de um “escudo” da história da arte e dos valores dos anos 1960. Bourriaud busca oferecer novos critérios pelos quais abordar tais trabalhos de arte – em geral um tanto obscuros – enquanto também afirma que não são menos politizados que o de seus precursores dos anos 1960 .
Bourriaud afirma, por exemplo, que a arte dos anos 1990 toma como horizonte teórico “a esfera das interações humanas e seu contexto social mais do que a afirmação de um espaço simbólico autônomo e privado” (ER, p.19). Em outras palavras, a arte relacional busca estabelecer encontros intersubjetivos (sejam eles literais ou potenciais) em que o sentido é elaborado coletivamente (ER, p. 21) e não realizado em um espaço privatizado de consumo individual. A implicação é de que esse trabalho inverte os objetivos do modernismo greenberguiano . Em vez de um trabalho de arte discreto, portátil e autônomo que transcenda seu contexto, a arte relacional fica inteiramente sujeita às contingências do ambiente e do público. Além disso, esse público é visto como uma comunidade: em vez de uma relação individual entre trabalho de arte e observador, a arte relacional estabelece situações em que se dirige aos observadores não apenas como a uma entidade social, coletiva, mas de modo que a eles estivessem sendo dados os meios para criar uma comunidade, por mais temporário ou utópico que isso venha a ser.
É importante enfatizar, entretanto, que Bourriaud não considera a estética relacional como uma simples teoria de arte interativa. Ele a considera como um meio de localizar a prática contemporânea dentro da cultura de modo geral: a arte relacional é vista como uma resposta direta à mudança de uma economia baseada em bens para uma economia de serviços . Também é vista como resposta às relações virtuais da internet e da globalização, que por um lado estimularam um desejo por interações mais físicas, interações cara a cara entre as pessoas enquanto, por outro lado, inspiraram artistas a adotar uma abordagem faça-você-mesmo, ou do-it-yourself (DIY) e moldar seus próprios “universos possíveis” (ER, p.18). Essa ênfase na urgência nos é familiar desde os anos 1960, relembrando a importância dada pela performance à autenticidade de nosso embate direto com o corpo do artista. Mas Bourriaud se esforça enormemente para distanciar o trabalho contemporâneo daquele das gerações anteriores. A principal diferença, em seu ponto de vista, é a mudança de atitude em relação à transformação social: em vez de uma pauta “utópica”, os artistas de hoje buscam apenas encontrar soluções provisórias aqui e agora; em vez de tentar transformar seu ambiente, os artistas hoje estão simplesmente “aprendendo a habitar melhor o mundo”; em vez de ansiar por uma utopia futura, essa arte estabelece “microutopias” funcionais no presente (ER, p. 18). Bourriaud resume vividamente essa nova atitude em uma única frase: “Parece mais urgente inventar relações possíveis com os vizinhos de hoje do que entoar loas ao amanhã” (ER, p.62). Esse ethos de um faça-você-mesmo microutópico é o que Bourriaud percebe como o significado político central da estética relacional.
Bourriaud cita vários artistas em seu livro, a maioria europeus e muitos dos quais presentes em Traffic, sua exposição seminal no CAPC Bordeaux em 1993. Certos artistas são mencionados com regularidade metronômica: Liam Gillick, Rirkrit Tiravanija, Phillippe Parreno, Pierre Huyghe, Carsten Höller, Christine Hill, Vanessa Beecroft, Maurizio Cattelan e Jorge Pardo – todos soarão familiares para quem frequenta bienais internacionais, trienais e Manifestas que se proliferaram na última década. O trabalho desses artistas difere daquele de seus contemporâneos mais conhecidos, os YBA, em vários aspectos. Diferentemente do trabalho autossuficiente (e formalmente conservador) dos britânicos, com suas referências acessíveis à cultura de massa, a aparência do trabalho europeu é bem menos impactante e inclui fotografia, vídeo, textos nas paredes, livros, objetos para serem usados e sobras da abertura do evento. O formato é basicamente o mesmo da instalação, mas esse é um termo a que muitos de seus praticantes resistiriam; em vez de formarem uma transformação coerente e distintiva do espaço (como a “instalação total” de Ilya Kabakov, uma encenação teatral), trabalhos de arte relacional insistem no uso em detrimento da contemplação . E diferentemente das personalidades distintas e marcadas da jovem arte britânica, é geralmente difícil identificar quem fez uma obra de arte “relacional”, já que tendem a fazer uso de formas culturais já existentes – incluindo outros trabalhos de arte – e remixá-los como um DJ ou programador . Além disso, muitos artistas mencionados por Bourriaud colaboraram uns com os outros, borrando ainda mais o distintivo de status autoral individual. Muitos também já realizaram curadorias uns dos trabalhos dos outros – como por exemplo uma “filtragem” da curadoria de Maria Lind em What if: Art on the Verge of Architecture and Design (Moderna Museet, Estocolmo, 2000) e Utopia Station de Tiravanija para a Bienal de Veneza de 2003 (co-curada por Hans Ulrich Olbrist e Molly Nesbit) . Pretendo me ater ao trabalho de dois artistas em particular, Tiravanija e Gillick, visto que que Bourriaud considera ambos como paradigmas da “estética relacional”.
Rirkrit Tiravanija é um artista que vive em Nova Iorque, nascido em Buenos Aires em 1961 de pais tailandeses e criado na Tailândia, na Etiópia e no Canadá, conhecido por seus híbridos de instalação e performance em que prepara legumes com curry ou pad thai (prato tailandês feito com macarrão) para as pessoas que visitam o museu ou a galeria onde foi convidado a trabalhar. No trabalho Untitled (Still) [Sem título (Ainda)] (1992) na 303 Gallery em Nova Iorque, Tiravanija tirou tudo que encontrou no escritório e no depósito da galeria e colocou na sala principal do espaço expositivo, incluindo o galerista, que foi obrigado a trabalhar em público em meio ao cheiro de comida e acompanhado por comensais. No depósito, ele organizou o que foi descrito por um crítico como uma “cozinha de refugiados improvisada” com pratos de papel, garfos e facas de plástico, fogareiros, utensílios de cozinha, duas mesas portáteis e alguns banquinhos dobráveis . Na galeria ele preparou legumes com curry para os visitantes e os detritos, utensílios e embalagens de comida tornaram-se a exposição de arte enquanto o artista não estava lá. Muitos críticos e o próprio Tiravanija observaram que esse envolvimento do público é o foco principal de seu trabalho: a comida é um meio que permite o desenvolvimento de uma relação de convívio entre o público e o artista .
Subjacente à maior parte da obra de Tiravanija fica o desejo de não apenas desbastar a distinção entre o espaço institucional e o espaço social mas também aquele entre o artista e o observador; a expressão “muita gente” aparece com frequência em sua lista de materiais. No final dos anos 1990, Tiravanija se ateve cada vez mais à criação de situações em que o público poderia inventar seu próprio trabalho. Uma versão mais elaborada da performance-instalação na 303 Gallery foi realizada com Untitled (Tomorrow Is Another Day) [Sem Título (Amanhã é outro dia)] (1996) no Kölnischer Kunstverein. Nesse trabalho, Tiravanija construiu uma réplica de madeira de seu apartamento em Nova Iorque que ficava aberta ao público 24 horas por dia. As pessoas podiam usar a cozinha para preparar alimentos, podiam usar seu banheiro, dormir no quarto ou ficar conversando na sala de estar. O catálogo que acompanhava o projeto de Kunstverein cita uma seleção de artigos de jornal e críticas, todas reiterando a afirmação do curador de que “essa combinação única de arte e vida oferecem um experiência impressionante de união a todos” . Apesar de os materiais do trabalho de Tiravanija terem se tornado mais diversos, a ênfase permanece no uso sobre a contemplação. Para o projeto Pad Thai, realizado no De Appel, em Amsterdã em 1996, ele disponibilizou uma sala com guitarras, amplificadores e uma bateria, permitindo que visitantes pegassem os instrumentos e fizessem sua própria música. Pad Thai inicialmente incorporou uma projeção de Sleep (1963) de Andy Warhol e entre as aparições seguintes via-se um filme de Marcel Broodthaers no Speaker’s Corner – no Hyde Park em Londres (em que o artista escreve em um quadro negro “vocês são todos artistas”). Em um projeto em Glasgow, Cinema Liberté (1999), Tiravanija pediu ao público local indicações de quais eram seus filmes preferidos, que foram projetados em uma tela ao ar livre no cruzamento de duas ruas em Glasgow. Conforme escreveu Janet Kraynak, apesar de os projetos desmaterializados de Tiravanija reviverem estratégias de crítica dos anos 1960 e 1970, pode-se argumentar que, no contexto atual do modelo econômico dominante do mundo globalizado, a ubiquidade itinerante de Tiravanija não está de fato questionando essa lógica de forma crítica mas apenas a reproduzindo-a . Ele figura entre os artistas mais estabelecidos, influentes e onipresentes no circuito internacional da arte e seu trabalho tem sido crucial tanto para o surgimento da estética relacional como teoria quanto para o desejo curatorial de exposições “abertas” no estilo “laboratório”.
Meu segundo exemplo é o artista britânico Liam Gillick, nascido em 1964. A produção de Gillick é interdisciplinar: seus interesses altamente teorizados são disseminados através de esculturas, instalações, design gráfico, curadorias, crítica de arte e pequenos romances. Um tema corrente em sua carreira nos mais diferentes meios é a produção de relações (especialmente relações sociais) através de nosso ambiente. Exemplos incluem Pinboard Project [Projeto Mural] (1992), um mural ou quadro de avisos contendo instruções para serem seguidas, outros itens que tenham potencial para serem incluídos no mural e ainda uma recomendação de assinatura de certos periódicos especializados; e Prototype Erasmus Table #2 (1994), uma mesa “criada para preencher uma sala quase completamente” e para ser “o lugar de trabalho em que fosse possível terminar o livro Erasmus is Late” (publicação de Gillick de 1995), mas que também está disponível para o uso de outras pessoas “para depósito e exibição de trabalhos sobre a mesa, embaixo ou em volta dela” .
Desde meados da década de 1990, Gillick tornou-se mais conhecido por seu trabalho tridimensional de design: telas e plataformas suspensas feitas de alumínio e acrílico colorido que são geralmente mostradas ao lado de textos e desenhos geométricos pintados diretamente na parede. As descrições de Gillick desses trabalhos enfatizam seu potencial valor de uso, mas de modo a cuidadosamente lhes negar qualquer agenciamento específico; o significado de cada objeto é tão exageradamente determinado que seu trabalho parece parodiar tanto afirmações do design modernista quanto a linguagem de consultoria empresarial. Seu cubo de acrílico de 120 cm de lado e aberto em cima intitulado Discussion Island: Projected Think Tank [Ilha da Discussão: espaço criativo projetado] (1997) é descrito como “um trabalho que pode ser usado como objeto que pode significar uma zona delimitada para a consideração de troca, transferência de informação e estratégia” enquanto a Big Conference Centre Legislation Screen [Tela de Legislação do Grande Centro de Conferência] (1998), uma tela de 3 x 2 m de acrílico colorido “ajuda a definir a localização em que ações individuais são limitadas por regras impostas pela comunidade como um todo” .
As estruturas de design de Gillick foram descritas como construções tendo uma “semelhança espacial aos espaços de escritórios, abrigos de pontos de ônibus, salas de reunião e cantinas” mas eles também herdam o legado da escultura minimalista e da instalação pós minimalista (Donald Judd e Dan Graham imediatamente vêm à mente) . Embora o trabalho de Gillick seja diferente daquele feito por seus predecessores na história da arte: enquanto as caixas modulares de Judd faziam com que o observador percebesse seu movimento corporal em torno do trabalho ao mesmo tempo em que também chamavam a atenção para o espaço em que estavam expostos, para Gillick basta que os observadores “deem as costas para o trabalho e conversem uns com os outros” . Em vez de o observador “completar” o trabalho, à maneira dos corredores de Bruce Nauman ou as vídeo-instalações de Graham em 1970, Gillick busca uma abertura perpétua em que sua arte seja um pano de fundo para outras atividades. “Eles não funcionam necessariamente melhor sendo apenas objetos de análise”, afirma. “Algumas vezes são um pano de fundo ou decoração em vez de serem puros provedores de conteúdo” . Os títulos de Gillick refletem esse movimento de afastamento da crítica direta dos anos 1970 em seu uso irônico e brando do jargão empresarial: Ilha da Discussão, Equipamento de Chegada, Plataforma de Diálogo, Tela de Regulação, Tela de Atraso e Plataforma de Renegociação Geminada . Essas alusões corporativas claramente distanciam o trabalho daquele feito por Graham, que expunha como materiais arquitetônicos aparentemente neutros (como vidro, espelho e aço) são usados pelo estado e pelo comércio para exercer controle político. Para Gillick, a tarefa não é insultar tais instituições, mas negociar formas de melhorá-las . Uma palavra frequentemente usada por ele é “cenário” e, de certa forma, toda a sua produção é governada pela ideia de uma “lógica de cenário” como modo de visualizar mudança no mundo – não como uma crítica direcionada à ordem atual, mas para “examinar até que ponto o acesso da crítica é possível, caso seja” . Vale notar que apesar da frustrante intangibilidade da escrita de Gillick – cheia de adiamentos e possibilidades em vez do presente e do real – ele foi convidado para solucionar problemas em projetos práticos como um sistema de tráfego para a Porsche em Sttutgart e para desenvolver sistemas de comunicação eletrônica para um projeto de moradia em Bruxelas. Gillick é um típico retrato de sua geração ao não encontrar conflito entre esse tipo de trabalho e exposições convencionais no “cubo branco”; ambas são vistas como formas de continuar sua investigação sobre “cenários” hipotéticos futuros. Em vez de determinar um resultado específico, Gillick gosta de desencadear alternativas abertas de modo que outras pessoas possam contribuir. O que mais o interessa são acordos e possibilidades de se chegar a um meio termo.
Escolhi falar de Gillick e Tiravanija porque eles parecem a mais clara expressão da afirmação de Bourriaud de que a arte relacional privilegia relações intersubjetivas em vez de uma visualidade impessoal. Tiravanija insiste que o observador esteja fisicamente presente em uma situação e em um momento específicos – comendo o que ele prepara, ao lado de outros visitantes em uma situação em comum. Gillick alude a relações mais hipotéticas que, em muitos casos, não precisam nem existir mas ainda insiste que a presença de um público é um componente essencial de sua arte: “Meu trabalho é como a luz de uma geladeira, só funciona quando existem pessoas lá para abrirem a porta. Sem as pessoas, não é arte – é uma outra coisa – coisas em uma sala” . Esse interesse nos imprevistos de uma “relação entre” – em vez do próprio objeto – é uma característica de seu trabalho e de seu interesse na prática colaborativa como um todo.
Essa ideia de considerar o trabalho de arte como um disparador potencial para a participação não é exatamente nova – pense nos happenings, nas instruções do grupo Fluxus, na performance dos anos 1970 e na declaração de Joseph Beuys de que “todo homem é um artista”. Cada uma delas foi acompanhada pelo discurso da democracia e da emancipação que é muito similar à defesa que Bourriaud faz da estética relacional . É fácil seguir o fio condutor que nos leva à base teórica desse desejo de ativação do observador: “O autor como produtor” de Walter Benjamin (1934), “A morte do autor” e “nascimento do leitor” (1968) de Roland Barthes e – ainda mais importante para esse contexto – A obra aberta de Umberto Eco (1962). Ao escrever sobre o que compreendeu ser o caráter aberto e aleatório da literatura, da música e da arte modernista, Eco resume sua discussão sobre James Joyce, Luciano Berio e Alexander Calder em tais termos que faz-se difícil não evocar o otimismo de Bourriaud:
A poética da “obra em movimento” (e em parte a poética da obra “aberta”) colocam em movimento um novo ciclo de relações entre o artista e seu público, uma nova mecânica da estética da percepção, uma condição diferente para o produto artístico na sociedade contemporânea. Ela abre uma nova página na sociologia e na pedagogia assim como um novo capítulo na história da arte e coloca novos problemas práticos através da organização de novas situações de comunicação. Em suma, essa nova poética instala uma nova relação entre a contemplação e a utilização de um trabalho de arte .
Analogias a Tiravanija e Gillick são evidentes no modo como Eco privilegia o uso de valor e o desenvolvimento de “situações comunicativas”. Entretanto, Eco afirma que todo o trabalho de arte é potencialmente “aberto”, já que pode produzir uma gama ilimitada de leituras possíveis; a conquista da arte, da música e da literatura contemporâneas é justamente essa: ter trazido esse fato à tona . Bourriaud se equivoca na interpretação desses argumentos aplicando-os a um tipo específico de trabalho (aqueles que requerem interação literal) e portanto redireciona seu argumento de volta para a intencionalidade artística e não para as questões de recepção .
Seu posicionamento também difere de Eco em outro aspecto importante: Eco considerava o trabalho de arte como um reflexo das condições de nossa existência em uma cultura moderna fragmentada enquanto Bourriaud vê o trabalho de arte como produtor dessas condições. A interatividade da arte relacional é portanto superior à contemplação ótica de um objeto, que é considerado passivo e desengajado porque o trabalho de arte é uma “forma social” capaz de produzir relações humanas positivas. Como consequência, o trabalho é automaticamente político em implicação e emancipatório em efeito.
Julgamento estético
Para quem está familiarizado com o ensaio “A Ideologia e os Aparatos Ideológicos de Estado” essa descrição de formas sociais que produzem relações humanas soarão familiares. A defesa de Bourriaud da estética relacional está em dívida com a ideia de cultura de Althusser – assim como um “aparato ideológico de estado” – não reflete a sociedade mas a produz. Da forma como foi utilizado por artistas feministas e críticos de cinema nos anos 1970, o ensaio de Althusser permitiu uma expressão mais matizada daquilo que é político na arte. De acordo com Lucy Lippard, foi através da forma (mais do que pelo conteúdo) que grande parte da produção artística do fim dos anos 1960 aspirava a um alcance democrático. A principal compreensão desse ensaio de Althusser foi ter reconhecido que uma crítica institucional circunscrita às instituições precisaria ser aprimorada . Por contraste, a geração de artistas seguinte “tratava a imagem como uma relação social em si e o observador como um sujeito construído pelo próprio objeto do qual ele anteriormente afirmava estar separado” .
Mais tarde voltarei à questão da identificação levantada por Deutsche. Enquanto isso é necessário observar que considerar a imagem como relação social está a apenas um passo do argumento de Bourriaud de que a estrutura de um trabalho de arte produz uma relação social. Entretanto, identificar o que é a estrutura de um trabalho de arte relacional não é uma tarefa fácil precisamente porque o trabalho se diz aberto. Esse problema é exacerbado pelo fato de que trabalhos de arte relacional sejam derivados das instalações artísticas, uma forma que desde o princípio solicita a presença literal do observador. Diferentemente da geração “Public Vision” de artistas cujas conquistas – principalmente em fotografia – foram assimiladas pela ortodoxia histórico-artística sem problemas, a instalação tem sido frequentemente denegrida como apenas mais uma forma de espetáculo pós-moderno. Para alguns críticos, notavelmente Rosalind Krauss, o uso que a instalação faz de diversos meios a separa de uma tradição de meios específicos; não possuindo, portanto, convenções próprias contra as quais possa operar com autocrítica nem critérios com os quais possamos avaliar seu êxito. Sem um sentido claro de qual seja o meio da instalação, o trabalho não consegue obter o santo graal da autocrítica e da reflexão “conceitual e arquitetônico que a prática artística se tornaria ‘específica’ [specific] em vez de ser em relação a um meio estético” – como mais bem exemplificado no trabalho de Marcel Broodthaers (Kraus, “Performing Art”, London Review of Books, 12 de novembro, 1998, p.18). Enquanto concordo em certa medida com Krauss a respeito do ponto de autocrítica e reflexão, fico incomodada com sua relutância em aceitar outras formas em que a instalação possa operar com êxito.]. Sugeri em outro artigo que a presença do observador poderia ser uma forma de se considerar o meio da instalação mas Bourriaud complica essa afirmação . Ele argumenta que os critérios que deveríamos usar para avaliar trabalhos de arte abertos e participativos não são meramente estéticos mas políticos e até éticos: precisamos julgar as “relações” que são produzidas pelos trabalhos de arte relacional.
Quando confrontados com um trabalho de arte relacional, Bourriaud sugere que façamos as seguintes perguntas: “esta obra me dá a possibilidade de existir perante ela? Eu poderia viver num espaço-tempo que lhe correspondesse na realidade?” (ER, p. 80). Ele se refere a essas perguntas que deveríamos fazer frente a qualquer produto estético como “critérios de coexistência” (ER, p.79). Teoricamente quando olhamos para qualquer trabalho de arte podemos perguntar qual tipo de modelo social aquele trabalho produz: eu poderia viver, por exemplo, num mundo estruturado pelos princípios organizadores de uma pintura de Mondrian? Ou qual “forma social” é produzida por um objeto surrealista? O problema que surge com a noção de “estrutura” de Bourriaud é que ela estabelece uma relação errática com o tema ou o conteúdo visíveis do trabalho. Por exemplo, valorizamos o fato de que os objetos surrealistas reciclam bens antiquados – ou o fato de que seu conjunto de imagens e justaposições desconcertantes exploram os desejos inconscientes e ansiedades de seus realizadores? Com o híbrido performance-instalação da estética relacional, que depende tão fortemente do contexto e do engajamento literal do observador, essas perguntas são ainda mais difíceis de responder. Por exemplo, o que Tiravanija cozinha, como e para quem é menos importante para Bourriaud do que o fato de que ele distribui os resultados do que cozinha de graça. O mural de Gillick pode ser questionado da mesma maneira: Bourriaud não discute os textos ou imagens a que se referem cada um dos elementos pregados no quadro nem a organização formal e a justaposição desses elementos, mas apenas a democratização que Gillick propõe com o material e seu formato flexível. (Quem possui o trabalho tem a liberdade de modificar esses vários elementos a qualquer momento de acordo com seu gosto pessoal e os acontecimentos do momento.) Para Bourriaud, a estrutura é o tema – e nisso ele é muito mais formalista do que percebe . Desarticulados tanto da intencionalidade artística quanto do ato de considerar o contexto mais amplo em que operam, os trabalhos de arte relacional se tornam, assim como os avisos no quadro de Gillick, apenas um “retrato constantemente mutável da heterogeneidade da vida cotidiana,” e não examinam sua relação com ela . Em outras palavras, apesar de os trabalhos afirmarem depender de seu contexto, eles não questionam sua imbricação nesse contexto. Os avisos de Gillick são compreendidos como democráticos em sua estrutura – mas apenas aqueles que os possuem podem interagir com sua organização. Precisamos perguntar, como o Group Material fez nos anos 1980, “Quem é o público? Como é feita a cultura e para quem?”
Não estou sugerindo que trabalhos de arte relacional precisem desenvolver maior consciência social – fazendo murais com recortes de jornal sobre terrorismo internacional, por exemplo, ou distribuindo legumes com curry a refugiados. Estou simplesmente me perguntando como decidimos o que constitui a “estrutura” de um trabalho relacional e se isso é separável do tema visível no trabalho ou se é permeável a seu contexto. Bourriaud quer igualar o julgamento estético ao julgamento ético-político das relações produzidas por um trabalho de arte. Mas como medimos ou comparamos essas relações? A qualidade das relações em “estética relacional” nunca são examinadas ou colocadas em questão. Quando Bourriaud afirma que “encontros são mais importantes que os indivíduos que os compõem”, percebo que essa questão (para ele) é desnecessária; todas as relações que permitem “diálogo” são automaticamente presumidas democráticas e, portanto, benéficas. Mas o que “democracia” de fato significa nesse contexto? Se a arte relacional produz relações humanas, então, a próxima pergunta lógica a se fazer é quais tipos de relações estão sendo produzidas, para quem e porquê.
Antagonismo
Rosalyn Deutsche declarou que a esfera pública permanece democrática apenas na medida em que suas exclusões naturalizadas são levadas em conta e colocadas em aberto para contestação: “Conflito, divisão e instabilidade, então, não destroem a esfera pública; são condições para sua existência”. Deutsche se baseia em Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Publicado em 1985, é um dos primeiros livros a reconsiderar a teoria política esquerdista pelas lentes do pós-estruturalismo de acordo com o que os autores perceberam como sendo um impasse na teorização marxista nos anos 1970. Seu texto é uma releitura de Marx através da teoria de Gramsci de hegemonia e da compreensão de Lacan da subjetividade como dividida e descentrada. Muitas das ideias que Laclau e Mouffe apresentam nos permitem reconsiderar as afirmações de Bourriaud sobre a política da estética relacional a partir de um ponto de vista mais crítico.
A primeira dessas ideias é o conceito de antagonismo. Laclau e Mouffe afirmam que uma sociedade democrática em pleno funcionamento não é aquela em que todo o antagonismo desaparece mas aquela em que novas fronteiras políticas são constantemente traçadas e colocadas em debate – em outras palavras, uma sociedade democrática é aquela em que as relações de conflito são sustentadas e não apagadas. Sem antagonismo existe apenas um consenso imposto por uma ordem autoritária – uma total supressão do debate e da discussão, que é desfavorável à democracia. É importante enfatizar em seguida que a ideia de antagonismo não é compreendida por Laclau e Mouffe como sendo uma aceitação pessimista de um beco sem saída político; antagonismo não sinaliza “a expulsão da utopia do campo do político”. Pelo contrário, eles sustentam que sem o conceito de utopia não há possibilidade de um imaginário radical. A tarefa é equilibrar a tensão entre o imaginário ideal e o gerenciamento pragmático de uma positividade social sem cair no totalitarismo.
Essa compreensão do antagonismo é baseada na teoria da subjetividade de Laclau e Mouffe. A partir de Lacan, eles argumentam que a subjetividade não é transparente, racional e pura presença mas que é irremediavelmente descentrada e incompleta. Entretanto, é mesmo certo que haja conflito entre o conceito de sujeito descentrado e a ideia de agenciamento político? “Descentramento” implica a falta de um sujeito unificado enquanto “agenciamento” implica um sujeito completamente presente, um sujeito autônomo com vontade política e autodeterminação. Laclau afirma que esse conflito é falso pois o sujeito não é nem completamente descentrado (o que implicaria psicose) nem inteiramente unificado (como, por exemplo, o sujeito absoluto). Ainda a partir de Lacan, Laclau afirma que temos uma identidade estrutural falha e portanto dependente de identificação para seguir em frente , p. 55).]. Pelo fato de a subjetividade ser esse processo de identificação, somos entidades necessariamente incompletas. Antagonismo, portanto, é a relação que emerge entre tais entidades incompletas. Laclau contrasta isso às relações que emergem entre entidades completas, como a contradição (A–não-A) ou “diferença real” (A-B). Todos temos crenças mutuamente contraditórias (por exemplo, existem materialistas que leem horóscopo e psicanalistas que enviam cartões de Natal) mas isso não resulta em antagonismo. Da mesma maneira, “diferença real” (A-B) não é igual a antagonismo; por concernir identidades completas, “diferença real” resulta em colisão – como uma batida de carro ou “a guerra contra o terrorismo”. No caso do antagonismo, Laclau e Mouffe afirmam que “somos confrontados com uma situação diferente: a presença do ‘Outro’ faz com que eu não seja eu mesmo completamente. A relação não surge de totalidades completas mas da impossibilidade de sua constituição” . Em outras palavras, a presença do que não sou eu torna minha identidade precária e vulnerável e a ameaça do que o outro representa transforma o próprio senso de mim mesmo em algo questionável. Quando se dá em nível social, o antagonismo pode ser visto como os limites da capacidade da sociedade de plenamente constituir a si mesma. O que quer que esteja na fronteira do social (e da identidade) buscando defini-lo também destrói sua ambição de constituir uma presença plena: “Como condições de possibilidade para a existência de uma democracia pluralista, conflitos e antagonismos constituem ao mesmo tempo a condição de impossibilidade de sua realização final” .
Debruço-me sobre essa teoria para sugerir que as relações estabelecidas pela estética relacional não são intrinsecamente democráticas, como sugere Bourriaud, já que elas permanecem confortavelmente dentro de um ideal de subjetividade como um todo e de uma comunidade como união imanente. Há debate e diálogo no trabalho em que Tiravanija cozinha, certamente, mas não existe fricção por si só já que a situação é o que Bourriaud chama de “microutopia”: ela produz uma comunidade cujos membros identificam-se uns com os outros porque têm algo em comum. A única descrição significativa que encontrei da primeira exposição individual de Tiravanija na 303 Gallery é de Jerry Saltz em Art in America, como se pode ler a seguir:
Na 303 Gallery eu geralmente me sentava com alguém ou era acompanhado por algum desconhecido e era ótimo. A galeria virou um lugar para compartilhar, um lugar alegre para conversar com sinceridade. Tive maravilhosas rodadas de refeições com galeristas. Uma vez Paula Cooper e eu comemos juntos e ela recontou um pedaço longo e complicado de uma fofoca profissional. Outro dia, Lisa Spellman relatou em detalhes hilariantes a história de uma intriga sobre um colega galerista que tentava, sem sucesso, roubar um de seus artistas. Mais ou menos uma semana depois David Zwirner me acompanhou. Encontrei-o por acaso na rua e ele disse “nada está dando certo hoje, vamos ao Rirkrit”. Nós fomos e falamos sobre a falta de emoção no mundo da arte novaiorquino. Outra vez fui acompanhado por Gavin Brown, o artista e galerista… que falou do colapso do SoHo – só para considerá-lo bem-vindo e dizer que já era hora porque as galerias andavam mostrando muita arte medíocre. Em outro momento uma mulher não identificada me acompanhou e um clima de paquera curiosa pairava no ar. E teve ainda uma outra vez conversei com um jovem artista que morava no Brooklin e tinha tido verdadeiros insights sobre as mostras que tinha acabado de ver .
A tagarelice informal desse relato claramente indica que tipo de problemas encontram aqueles que pretendem saber mais sobre tal trabalho: a sinopse nos diz apenas que a intervenção de Tiravanija é considerada boa porque permite que uma série de galeristas e apreciadores de arte – cuja forma de pensar é semelhante – façam contatos profissionais e porque evoca uma atmosfera de bar. Todos tem em comum o interesse pela arte e o resultado é a fofoca do universo da arte, conversas sobre exposições e paquera. Tal comunicação é razoável até certo ponto mas não é, por si só, emblemática da “democracia”. Para ser justa, penso que Bourriaud reconhece esse problema – mas não o levanta em relação aos artistas que promove, pois ele indaga: “Conectando pessoas, criando experiências interativas de comunicação mas para quê? Se esquecemos de perguntar ‘pra quê?’, o que nos resta é simplesmente ‘arte Nokia’ – ou seja, uma produção de relações interpessoais sem outros objetivos além das próprias relações, e sem abordar seus aspectos políticos” . Eu diria que a arte de Tiravanija, pelo menos como é apresentada por Bourriaud, não consegue se aproximar dos aspectos políticos da comunicação – mesmo quando alguns de seus projetos parecem, à primeira vista, tratar deles ainda que de modo dissonante. Voltemos ao assunto do projeto de Tiravanija de Colônia, Sem título (Amanhã é Outro Dia). Já citei o comentário do curador Udo Kittelman de que a instalação oferecia “uma experiência impressionante de união a todos”. Ele continua: “Vários grupos de pessoas preparavam comida e conversavam, tomavam banho e ocupavam a cama. Nosso medo de que o espaço de convivência artística pudesse ser vandalizado não se tornou realidade… O espaço de arte perdeu sua função institucional e finalmente tornou-se um espaço social livre” . O Kölnischer Stadt-Anzeigner concordou que o trabalho oferecia “uma espécie de ‘refúgio’ para todos” . Mas quem são “todos” nesse caso? Isso pode ser uma microutopia mas – como a utopia – é ainda baseada na exclusão daqueles que evitam ou impedem sua realização. (É tentador considerar o que poderia ter acontecido se o espaço de Tiravanija tivesse sido invadido por aqueles que estivessem procurando verdadeiro “refúgio”) . Por que não o fazem? De alguma forma o mundo da arte parece secretar uma enzima invisível que repele forasteiros. O que aconteceria se da próxima vez que Tiravanija montasse uma cozinha em uma galeria de arte um bando de moradores de rua aparecessem diariamente para almoçar? O que o Walker Art Center faria se algum deles juntasse dinheiro suficiente para pagar a entrada no museu e decidisse dormir na cama dobrável de Tiravanija o dia todo, todos os dias?(…)” (Saltz, “A Short History of Rirkrit Tiravanija,” p. 106) À sua própria maneira, Tiravanija traz essas questões à tona e derruba a porta (tão eficientemente trancada por uma suposta arte política) que separa o mundo da arte de todo o resto”. A “enzima invisível” a que Saltz se refere deveria alertá-lo precisamente das limitações do trabalho de Tiravanija e sua abordagem não antagônica a questões de espaço público. (Saltz, “A Short History of Rirkrit Tiravanija,” p. 106)]. Suas instalações refletem a compreensão de Bourriaud que as relações produzidas por trabalhos de arte relacional são fundamentalmente harmoniosas porque são dirigidas a uma comunidade de sujeitos observadores com algo em comum . Esse é o motivo pelo qual os trabalhos de Tiravanija são políticos apenas no sentido mais vago quando o que se defende é o diálogo em relação ao monólogo (comunicação de apenas uma via, igualada ao espetáculo pelos Situacionistas). O conteúdo desse diálogo não é democrático nele mesmo, já que todas as questões voltam para a banalidade da não-questão “isso é arte?” . Apesar do discurso de “abertura” e “emancipação do espectador” feito por Tiravanija, a estrutura de seu trabalho antecipadamente delimita seu resultado e conta com a presença do artista dentro da galeria para diferenciar tal estrutura do entretenimento. A microutopia de Tiravanija abre mão da ideia de transformação da cultura pública e reduz seu escopo aos prazeres direcionados a um grupo privado em que uns se identificam com os outros – todos frequentadores de galerias .
A posição de Gillick a respeito da questão do diálogo e democracia é mais ambígua. À primeira vista ele parece apoiar a tese de antagonismo de Laclau e Mouffe:
Ao mesmo tempo em que admiro artistas que constroem visões “melhores” de como as coisas poderiam ser, sei que o meio termo e a negociação de territórios pelos quais me interesso sempre trazem a possibilidade de momentos em que o idealismo torna-se incerto. Há muitas demonstrações de acordos, estratégias e falência em meu trabalho assim como há receitas claras de como nosso ambiente pode ser melhor .
Entretanto, quando procuramos por “receitas claras” no trabalho de Gillick – elas são poucas, se é que há alguma a ser encontrada. “Estou trabalhando numa nuvem de ideias”, afirma ele “que são um tanto parciais ou paralelas em vez de didáticas” . Relutante em dizer quais são os ideais que poderiam ser comprometidos, Gillick tira proveito da credibilidade das referências à arquitetura (seu engajamento com situações sociais concretas) enquanto permanece abstrato quanto à articulação de um posicionamento específico. O trabalho Plataformas de Discussão, por exemplo, não aponta para nenhuma mudança em especial, apenas mudanças em geral – um “cenário” em que “narrativas” potenciais podem emergir ou não. A posição de Gillick é escorregadia e, finalmente, ele parece defender a negociação e o acordo como. receitas para a melhora. Logicamente, esse pragmatismo é equivalente a um abandono ou uma falência de ideais; seu trabalho é a demonstração de uma conciliação em vez de a articulação de um problema
Por outro lado, a teoria de democracia como antagonismo de Laclau e Mouffe pode ser vista no trabalho de dois artistas sabidamente ignorados por Bourriaud em Estética Relacional e em Pós-produção: o artista suíço Thomas Hirschhorn e o espanhol Santiago Sierra . Esses artistas estabelecem “relações” que enfatizam o papel do diálogo e da negociação em sua arte mas o fazem sem que essas relações sucumbam ao conteúdo do trabalho. As relações produzidas por suas performances e instalações são marcadas por sensações de mal-estar e desconforto em vez de pertencimento porque os trabalhos reconhecem a impossibilidade de uma “microutopia” e, em vez disso, sustentam uma tensão entre observadores, participantes e contexto. Parte integrante dessa tensão é a introdução de colaboradores de realidade econômica distinta que, por sua vez, servem para desafiar a percepção da arte contemporânea como um domínio que engloba outras estruturas sociais e políticas.
Não-identificação e autonomia
O trabalho de Santiago Sierra (nascido em 1966), assim como o de Tiravanija, envolve o estabelecimento literal de relações entre pessoas: o artista, os participantes em seu trabalho e o público. Mas desde o fim dos anos 1990 as “ações” de Sierra vêm sendo organizadas em torno de relações que são mais complicadas – e mais controversas – que aquelas produzidas por artistas associados à estética relacional. Sierra tem atraído críticas beligerantes e a atenção de tabloides por algumas de suas ações mais extremas como 160 cm Line Tattooed on Four People [Linha de 160cm Tatuada em Quatro Pessoas] (2000), A Person Paid for 360 Continuous Working Hours [Uma Pessoa Paga por 360 Horas de Trabalho Contínuo] (2000) e Ten People Paid to Masturbate [Dez Pessoas Pagas para se Masturbarem] (2000). Essas ações efêmeras são documentadas em fotografias preto e branco despretensiosas, textos curtos e, ocasionalmente, em vídeo. Esse modo de documentação parece ser um legado da arte conceitual e da Body Art dos anos 1970 – Chris Burden e Marina Abramovic vêm à mente – mas o trabalho de Sierra desenvolve essa tradição de modo significativo ao usar outras pessoas como performers e com a ênfase que coloca em sua remuneração. Enquanto Tiravanija celebra a doação, Sierra sabe que nada é de graça: tudo e todos têm seu preço. Seu trabalho pode ser visto como uma reflexão cruel sobre as condições sociais e políticas que permitem o surgimento de disparidades nos “preços” das pessoas. Agora regularmente convidado para realizar trabalhos em galerias na Europa e nas Américas, Sierra cria uma espécie de realismo etnográfico em que o resultado ou desdobramento de sua ação forma um indicador da realidade econômica e social do lugar em que trabalha . Interpretar a prática de Sierra dessa forma é ir contra a corrente das leituras dominantes de seu trabalho que o apresentam como uma reflexão niilista da teoria de Marx de valor de troca do trabalho. (Marx afirmava que o tempo de trabalho de um operário valia menos para o patrão que seu valor de troca posterior em forma de um bem produzido por seu trabalho.) As tarefas que Sierra exige de seus colaboradores – que são invariavelmente inúteis, exaustivas e às vezes deixam cicatrizes permanentes – são vistas como amplificações do status quo que expõem o pronto abuso daqueles que farão até mesmo os trabalhos mais humilhantes ou sem sentido em troca de dinheiro. Ao receber pagamento por suas ações – como artista – e ser o primeiro a admitir as contradições dessa situação, seus detratores afirmam que ele está dizendo o óbvio de forma pessimista: o capitalismo explora. Além disso, esse é um sistema do qual ninguém pode se isentar. Sierra paga outros para fazer o trabalho para o qual ele mesmo é pago e, por sua vez, ele é explorado por galerias, negociantes e colecionadores. O próprio Sierra faz pouco para contradizer essa visão quando opina,
Não posso mudar nada. Não há possibilidade de mudarmos nada com o trabalho artístico. Fazemos nosso trabalho porque estamos fazendo arte e porque acreditamos que a arte deve ser alguma coisa, alguma coisa que acompanha a realidade. Mas eu não acredito na possibilidade de mudança .
A aparente cumplicidade de Sierra com o status quo levanta a questão de como seu trabalho difere daquele de Tiravanija. Vale ter em mente que, desde os anos 1970, antigos discursos de oposição e transformação de vanguarda têm sido frequentemente substituídos por estratégias de cumplicidade; o que importa não é a cumplicidade mas como a recebemos. Enquanto o trabalho de Tiravanija é experimentado num tom grandiloquente, o trabalho de Sierra certamente não se apresenta da mesma maneira. A seguir, faço uma tentativa de interpretar o trabalho de Sierra através das lentes dicotômicas da Estética Relacional e Hegemonia para destacar as diferenças mais profundamente.
Não é a primeira vez que se percebe que Sierra documenta suas ações e portanto garante que todos saibamos o que ele considera ser sua “estrutura”. Tomemos, por exemplo, The Wall of a Gallery Pulled Out, Inclined Sixty Degrees from the Ground and Sustained by Five People [A Parede de uma Galeria Arrancada, Inclinada Sessenta Graus do Chão e Sustentada por Seis Pessoas] Cidade do México (2000). Diferentemente de Tiravanija e Gillick, que abraçam a ideia de trabalho aberto, Sierra delimita desde o início sua escolha dos participantes convidados e o contexto em que o evento ocorrerá. “Contexto” é a palavra chave para Gillick e Tiravanija ainda que seus trabalhos pouco se esforcem para abordar o problema do que consiste o conceito de “contexto”. (Tem-se a impressão de que ele existe como uma infinidade indiferenciada, assim como o ciberespaço.) Laclau e Mouffe afirmam que para que se constitua um contexto e ele seja identificado como tal, certos limites precisam ser demarcados; pois pelas exclusões geradas por essa demarcação é que o antagonismo ocorre. É precisamente esse ato de exclusão que é rejeitado na preferência da arte relacional por “abertura” . As ações de Sierra, por contraste, ficam impregnadas de outras “instituições” (por exemplo: imigração, salário mínimo, congestionamento no trânsito, comércio de rua ilegal, falta de moradia) para enfatizar as divisões impostas por esses contextos. De modo crucial, entretanto, Sierra não apresenta essas divisões como reconciliadoras (do modo como Tiravanija omite o museu com o café ou o apartamento) nem como esferas inteiramente separadas: o fato de que seus trabalhos são realizados o coloca no terreno do antagonismo (em vez do modelo “batida de carro” quando a colisão acontece entre identidades completas) e sinaliza que seus limites são tanto instáveis quanto abertos a mudanças.
Em um trabalho para a Bienal de Veneza de 2001, Persons Paid to Have Their Hair Dyed Blond [Pessoas Pagas para Tingir o Cabelo de Loiro], Sierra convidou vendedores ambulantes ilegais, em sua maioria imigrantes do sul da Itália, do Senegal, da China e de Bangladesh para que pintassem seus cabelos de loiro em troca de 120 mil liras (sessenta dólares). A única condição para sua participação era que seus cabelos fossem naturalmente escuros. A descrição de Sierra do trabalho não documenta o impacto de sua ação nos dias que se seguiram ao tingimento massivo mas esse resultado era um aspecto integrante do trabalho . Durante a Bienal de Veneza os vendedores ambulantes – que vagam pelas esquinas vendendo bolsas falsificadas de designers famosos – são geralmente o grupo social mais obviamente excluído da abertura glamourosa; em 2001, entretanto, seu novo cabelo tingido havia literalmente dado novas cores à sua presença na cidade. A isso somou-se o gesto dentro da própria Bienal em que Sierra cedeu o espaço que estava destinado a sua exposição para uma porção desses vendedores que o utilizaram para vender suas bolsas Fendi falsificadas sobre um pano, do mesmo modo que faziam nas ruas. O gesto de Sierra levantou imediatamente uma estranha analogia entre arte e comércio, no estilo da crítica institucional dos anos 1970 mas que foi muito além disso, já que os vendedores e a exposição se estranhavam mutuamente ao serem confrontados. Em vez de chamarem a atenção dos passantes de forma agressiva como faziam nas ruas, os vendedores estavam acanhados. Isso fez com que meu próprio encontro com eles fosse desarmante de forma que apenas posteriormente revelaria minha própria ansiedade sobre sentir-me “incluída” na Bienal. Era mesmo certeza que eram atores? Teriam se enfurnado lá de brincadeira? Colocando em primeiro plano o momento de não identificação mútua, a ação de Sierra quebrou o senso de identidade do público de arte que se baseia precisamente nas tácitas exclusões raciais e de classe, assim como na tentativa de velar o comércio ostensivo. É importante que o trabalho de Sierra não tenha atingido uma reconciliação harmoniosa entre os dois sistemas mas tenha sustentado a tensão entre eles.
A volta de Sierra para a Bienal de Veneza em 2003 consistia uma grande performance-instalação no pavilhão da Espanha. Wall Enclosing a Space [Parede Fechando um Espaço] era um trabalho que envolvia o isolamento de todo o interior do pavilhão com blocos de concreto que iam do teto ao chão. Ao entrar no edifício, os observadores eram confrontados por um muro malacabado e ainda assim impenetrável que tornava as galerias inacessíveis. Os visitantes que portassem passaporte espanhol eram convidados a adentrar o espaço através da parte de trás do prédio onde duas autoridades oficiais da imigração fiscalizavam os passaportes. Todos os naturalizados espanhóis, entretanto, não podiam entrar no pavilhão, em cujo interior encontrava-se nada além de tinta cinza descascando das paredes que havia sido deixada da exposição do ano anterior. O trabalho era “relacional” no mesmo sentido que Bourriaud faz da expressão mas problematizava a ideia de que essas relações fossem fluidas e irrestritas ao expor como todas asnossas interações, assim como o espaço público, são rasgadas por exclusões sociais e legais .
O trabalho de Thomas Hirschhorn (nascido em 1957) geralmente aborda questões parecidas. Sua prática é convencionalmente percebida como uma contribuição para a tradição da escultura – diz-se de seu trabalho que reinventou o monumento, o pavilhão e o altar ao imergir o observador em meio a imagens que encontra, vídeos e fotocópias agrupadas com o auxílio de materiais baratos e perecíveis como papelão, fita crepe e papel alumínio. Além das referências ocasionais à tendência de seu trabalho ser vandalizado ou pilhado quando situado fora da galeria, o papel do observador é raramente abordado quando se escreve sobre seu trabalho . Hirschhorn é famoso por sua afirmação de que não faz arte política mas faz arte politicamente. Um importante fator desse comprometimento político é não tomar a forma da uma ativação literal do observador em um espaço:
Não quero convidar ou obrigar os observadores a interagirem com o que eu faço; não quero ativar o público. Quero me doar e me engajar a tal ponto que os observadores confrontados com o trabalho possam participar e se envolver mas não como atores .
O trabalho de Hirschhorn representa uma guinada importante na forma como a arte contemporânea visualiza o observador, de modo que case com sua afirmação da autonomia da arte. Um dos pressupostos subjacentes em Estética Relacional é a ideia – instaurada pela vanguarda histórica e reiterada desde então – de que a arte não deveria ser uma esfera privilegiada e isolada mas que deveria se fundir com a “vida”. Atualmente a arte tornou-se tão subordinada à vida cotidiana – em forma de lazer, entretenimento e negócios – que artistas como Hirschhorn não consideram seu trabalho como sendo “aberto” nem declaram a exigência de que o observador o complete, já que a política desse trabalho advém, em vez disso, de como o trabalho é feito:
Fazer arte politicamente significa escolher materiais que não intimidem, um formato que não domine, um dispositivo que não seduza. Fazer arte politicamente é não se submeter a uma ideologia nem denunciar o sistema, em oposição a assim chamada “arte política”. É trabalhar com a mais total energia contra o princípio de “qualidade”.
Um discurso democrático perpassa o trabalho de Hirschhorn mas ele não se manifesta através da ativação literal do observador: em vez disso, ele aparece nas decisões referentes ao formato, materiais e localização do trabalho, como seus “altares”, que imitam memoriais ad hoc com flores e brinquedos em locais de acidentes nas periferias da cidade. Nesses trabalhos – como nas instalações Pole Self e Laundrette, ambos de 2001 – imagens, textos, propagandas e fotocópias encontradas são justapostas para contextualizar a banalidade do consumo e atrocidades políticas e militares.
Muitas das preocupações de Hirschhorn aparecem ao mesmo tempo no trabalho Battaille Monument (2002), feito para a Documenta XI. Localizado em Nordstadt, um subúrbio de Kassel a muitos quilômetros de distância dos locais principais da Documenta, Monument compreendia três instalações em grandes cabanas improvisadas, um bar administrado por uma família local e uma escultura de árvore, todas instaladas no gramado que rodeava dois projetos de habitação. As cabanas foram construídas a partir dos materiais de uso recorrente de Hirschhorn: aglomerados de madeira, papel alumínio, filme plástico e fita crepe. A primeira abrigava uma biblioteca de livros e vídeos agrupados em torno de cinco temas de Battaille: palavras, imagens, arte, sexo e esporte. Diversos sofás gastos, uma televisão e um vídeo também ficavam disponíveis e toda a instalação foi desenvolvida para facilitar a familiarização com o filósofo de quem Hirschhorn afirma ser um “fã”. As duas outras cabanas abrigavam um estúdio de televisão e uma instalação de informações sobre a vida e a obra de Bataille. Para conseguir chegar a Bataille Monument, os visitantes tinham que participar em mais um aspecto do trabalho: conseguir um táxi de uma empresa turca que foi contratada pela Documenta para transportar seus visitantes até o local do trabalho e de volta. Os observadores ficavam, então, algum tempo sem poder sair de Monument até que um táxi de volta ficasse disponível e durante esse período acabavam inevitavelmente indo ao bar.
Ao localizar Monument no meio de uma comunidade cuja etnia e status econômico não considerada como público-alvo da Documenta, Hirschhorn planejou uma aproximação curiosa entre ofluxo de entrada de turistas de arte e os residentes da região. Em vez de fazer a população local se sujeitar ao que ele chama de “efeito zoológico”, o projeto de Hirschhorn fez com que os visitantes é que se sentissem como intrusos infelizes. De forma a quebrar ainda mais os padrões à luz das pretensões intelectuais do universo da arte internacional, Monument de Hirschhorn considerou seriamente os habitantes locais como potenciais leitores de Bataille. Esse gesto induziu uma gama de respostas emocionadas entre os visitantes, incluindo acusações de que o gesto de Hirschhorn era inadequado e paternalista. Esse mal-estar revelou o frágil condicionamento da identidade que o universo da arte construiu para si mesmo. O complicado jogo de mecanismos identitários e desidentitários em operação no conteúdo, na construção e na localização do trabalho Bataille Monument foram radicais, promovendo rupturas e provocando pensamentos: o “efeito zoológico”, nesse caso, funcionava numa via de mão dupla. Em vez de oferecer, como afirma o catálogo da Documenta, uma reflexão sobre o “compromisso da comunidade”, Bataille Monument serviu para desestabilizar (e portanto liberar potencialmente) qualquer noção de identidade comunitária ou o que quer que signifique ser um “fã” de arte e filosofia.
Um trabalho como Bataille Monument depende de seu contexto para que tenha impacto mas, teoricamente, ele poderia ser realizado novamente em qualquer lugar, em circunstâncias equivalentes. Outro fator importante é que o observador não se exige uma participação literal (como comer macarrão ou ativar uma escultura, por exemplo) mas é pedido que seja um visitante zeloso e reflexivo:
Não quero fazer um trabalho interativo, quero fazer um trabalho ativo. Para mim, a atividade mais importante que um trabalho de arte pode provocar é a atividade de pensar. O trabalho Big Electric Chair de Andy Warhol (1967) me faz pensar mas é uma pintura numa parede de museu. Um trabalho ativo exige que eu possa me doar antes de qualquer coisa .
A postura independente tomada por Hirschhorn em seu trabalho– apesar de produzida coletivamente, sua arte é produto da visão de um único artista – implica a reintrodução de um grau de autonomia à arte. Da mesma maneira, o observador não mais fica coagido a cumprir exigências interativas do artista mas é pressuposto como um sujeito de pensamento independente, o que é um pré-requisito essencial para a ação política: “refletir e pensar criticamente é ser ativo, fazer perguntas é despertar para a vida”. Bataille Monument mostra que a instalação e a performance agora se encontram a uma distância significativa dos apelos das vanguardas para uma junção entre arte e vida.
Antagonismo relacional
Meu interesse pelo trabalho de Thomas Hirschhorn e de Santiago Sierra deriva não apenas de sua abordagem mais incisiva e subversiva das “relações” do que aquela proposta por Bourriaud mas também por sua distância dos projetos de arte pública engajados que se espalharam sob a égide da “novo estilo de arte pública”. Entretanto, o fato de os trabalhos de Sierra e Hirschhorn demonstrarem de melhor maneira a democracia faz deles melhores trabalhos de arte? Para muitos críticos a resposta seria óbvia: claro que sim! Mas o simples surgimento dessa questão é em si mesmo sintomático de tendências mais amplas na crítica de arte contemporânea: hoje, julgamentos morais, políticos e éticos vieram para preencher o vácuo de julgamento estético de uma forma que era impensável há quarenta anos. Isso acontece em parte porque o pós-modernismo atacou a própria noção de julgamento estético e em parte porque a arte contemporânea solicita uma interação literal do observador de formas cada vez mais elaboradas. Ainda assim, o “nascimento do observador” (e as promessas extasiantes de emancipação que o acompanham) não repensaram os apelos para uma elevação dos critérios, que simplesmente continuam retornando de outras formas.
Não será possível, nesse artigo, tratar dessa questão com a devida atenção. Gostaria, portanto, apenas de pontuar que se os trabalhos que Bourriaud considera exemplares de “estética relacional” desejam ser politicamente considerados, então essa proposição precisar ser seriamente abordada. Existe uma longa tradição de participação do observador e de ativação do público nos trabalhos de arte que atravessam diversas mídias – desde o teatro experimental alemão de 1920 ao cinema new-wave e nouveau roman de 1960, da escultura minimalista às instalações pós-minimalistas de 1970, da escultura social de Beuys às performances engajadas de 1980. Não é mais suficiente dizer que simplesmente ativar o observador é um ato democrático, pois cada trabalho de arte – até mesmo o mais “aberto” deles – determina antecipadamente a profundidade de participação do observador, p. 225). Ainda assim o jornal mantem um editor e a seção de cartas não passa de uma entre um amontoado de páginas autorais submetidas à apreciação desse editor.].Hirschhorn diria que tais simulações de emancipação não são mais necessárias: toda arte – seja imersiva ou não – pode ser uma força crítica que se apropria de valores e os redistribui, distanciando nossos pensamentos do consenso predominante preexistente. As tarefas que se colocam diante de nós atualmente são analisar como a arte contemporânea se dirige ao observador e avaliar a qualidade das relações com o público que ela produz: a posição do sujeito que qualquer trabalho pressupõe, as noções democráticas que sustenta e como essas se manifestam na experiência do trabalho.
Pode-se afirmar que os trabalhos de Hirschhorn e Sierra, do modo como os apresentei, não estão mais presos à direta ativação do observador ou à sua participação literal no trabalho. Isso não quer dizer que esses trabalhos sejam um retorno ao tipo de autonomia do alto modernismo defendida por Clement Greenberg mas, em vez disso, a uma imbricação mais complicada do social e do estético. Nesse modelo, o cerne da resolução impossível de que depende o antagonismo é refletido na tensão entre arte e sociedade concebidas como esferas mutuamente excludentes – uma tensão crítica e reflexiva que os trabalhos de Sierra e Hirschhorn compreendem e reconhecem completamente .Sob essa perspectiva, encontrar tão frequentemente os temas de “obstrução” ou “bloqueio” nos trabalhos de Sierra é menos um fator de retorno à recusa modernista como defendido por Theodor Adorno do que uma expressão das barreiras entre o social e o estético depois de um século de tentativas de fundi-las . Nessa exposição no Kunst-Werke em Berlim, os observadores confrontaram-se com uma série de caixas de papelão improvisadas e cada uma delas escondia um refugiado checheno que pedia asilo na Alemanha . As caixas eram uma releitura arte povera da celebrada escultura Die (1962) de 2 x 2m que Michael Fried descreveu de forma célebre como capaz de exercer o mesmo efeito no observador da “presença silenciosa de outra pessoa” . No trabalho de Sierra, essa presença silenciosa era literal: já que é contra a lei que na Alemanha trabalhadores ilegais sejam pagos por trabalho, a situação dos refugiados não podia ser anunciada pela galeria. Seu silêncio foi exagerado e exacerbado por sua invisibilidade literal sob as caixas de papelão. Em tais trabalhos, Sierra parece afirmar que o corpo fenomenológico do minimalismo é politizado precisamente pela qualidade de sua relação – ou falta de relação – com outras pessoas. Nossa resposta ao testemunharmos os participantes nas ações de Sierra – estejam eles olhando para a parede, sentados dentro de caixas ou tatuados com uma linha – é muito diferente da “sensação de união” da estética relacional. O trabalho não oferece uma experiência de empatia humana transcendente que ameniza a estranha situação à nossa frente mas uma não-identificação racial e econômica pontual: “esse não sou eu”. A persistência dessa fricção, sua estranheza e desconforto,alertam-nos para o antagonismo relacional do trabalho de Sierra.
Os trabalhos de Hirschhorn e Sierra se posicionam contra as reivindicações de estética relacional de Bourriaud, as comunidades microutópicas de Tiravanija e o cenário formalista de Gillick. O posicionamento “de bom moço” adotado por Tiravanija e Gillick são refletidos em sua presença ubíqua na cena artística internacional e sua condição como favoritos constantes de alguns curadores que se tornaram conhecidos por promoverem sua seleção de artistas preferidos (e portanto tornando-se eles mesmos estrelas de brilho próprio). Em tal situação tão confortável, a arte não sente a necessidade de se defender e se rende ao entretenimento compensatório (e autoindulgente). Os trabalhos tanto de Hirschhorn quanto de Sierra são melhor arte não por serem simplesmente melhor política (apesar de ambos artistas agora terem igual grande visibilidade no principal circuito da arte). Os trabalhos deles reconhecem as limitações do que é possível como arte (“Eu não sou um animador, professor nem assistente social”, afirma Hirschhorn) e sujeita a escrutínio todas as afirmações fáceis de uma relação transitiva entre arte e sociedade. O modelo de subjetividade que ancora sua prática não é o sujeito fictício e completo de uma comunidade harmoniosa mas um sujeito dividido, de identificações parciais, abertas ao fluxo constante. Se a estética relacional requer um sujeito unificado como pre-requisito para uma comunidade-como-unidade, então Hirschhorn e Sierra fornecem uma modalidade de experiência artística mais adequada para o sujeito incompleto e dividido de hoje. O antagonismo relacional a que me refiro não seria baseado na harmonia social mas na exposição daquilo que é reprimido ao se sustentar uma aparência de harmonia. Ele, portanto, proveria bases mais concretas e polêmicas para repensar nossa relação com o mundo e uns com os outros.
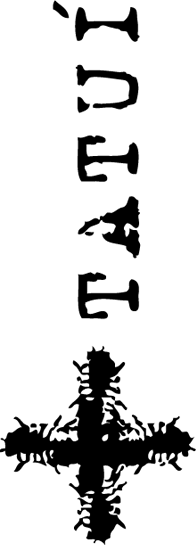



Comentários