Um montanhista sobe uma montanha porque ela está lá. Um artista faz arte porque ela não está lá.
Se o circuito de arte é um território já posto, basta ao artista, como um alpinista, trilhá-lo.
Ou, como artista, o próprio território da arte será algo inventado.
A quase totalidade das sociedades urbanas do mundo ocidentalizado sustenta-se sobre modelos de desigualdade e controle social, por ora (pós-queda do muro de Berlim) plasmados num neoliberalismo econômico sem fronteiras. A atuação do artista como intelectual crítico continua sendo a de revelar e desconstruir as convenções culturais que reduzem a vida à mercantilização dos desejos, burocratização e alienação dos fazeres, padronização das subjetividades, dos costumes e das linguagens. Se o mundo está muito injusto, errado, insano e doente, se a desumanidade governa, por que a arte e o pensamento simplesmente atenderiam às suas demandas como supridores de objetos específicos e alienados, alimentando com novos produtos uma gigante máquina suicida? Instaurar um novo ambiente, linguagem e realidade, é nadar contra a corrente. A contracultura e a antiarte continuam sendo necessidades contemporâneas, ou como Hélio Oiticica apontou, entre uma das seis características de uma arte brasileira de vanguarda: “o ressurgimento do problema da antiarte”. E essa nova realidade desejada pela arte é em princípio o imaginário e o sensorial, individual e coletivo, a partir do qual é possível perceber as coisas diferentemente, agir e transformar. A subjetividade é também um campo de batalha. Se vivêssemos numa sociedade justa e feliz, talvez todos fôssemos artistas e nossa arte estaria impregnada em tudo como celebração da vida, como reificação dos valores da coletividade, do simbólico, dos costumes, de uma cosmogonia, da inventividade humana. Não é o caso. E isso não quer dizer que não haja felicidade, pois em todos os lugares tenta-se também reinventá-la e cultivá-la. A arte então parece estar nessa dupla missão: desfazer amarras e encaminhar saídas, mesmo que num corpo a corpo, numa microfísica dos acontecimentos, pois para haver comunidade é necessário indivíduos e qualquer transformação real coletiva começa pelo sujeito. Assim seguimos. Em termos táticos, não basta a linguagem artística estar impregnada de conteúdo social, ela necessita estar atenta também ao lugar por onde transita e como se desloca. Para não ficar esvaziada de sentido – retórica sem lastro existencial. Qualquer coisa pode ser arte, mas arte não é uma coisa qualquer. Qual é a coisa que se quer fazer? Qual é o lugar onde se quer estar? Entre o artista e a sociedade há uma terceira margem do rio, indissociável do próprio fazer artístico: o circuito de arte, com sua herança histórica e seus meios de legitimação cultural. Equívoco seria imaginar esse circuito como neutro, um circuito branco , como um cubo branco, desvinculado dos interesses e valores conflitantes da própria sociedade.
Além da linguagem e de um imaginário a serem desenvolvidos e compartilhados, outros e simultâneos campos de atuação complementam o lugar de trânsito do artista: o repensar de seu papel na sociedade; a reavaliação das políticas públicas para as artes empreendidas pelo Estado; a revaloração do trabalho artístico frente às intituições e mercado; a criação de redes autônomas de trocas simbólicas entre artistas e sociedade. É sobre esse território que aqui se quer falar, usando a língua de duplo sentido, que desconstrói e recodifica. Qual história da arte? Qual circuito? São tantas as verdades. Propõe-se abordar algumas conjunturas do já cinquentenário circuito de arte contemporânea no Brasil. Avaliar alguns macrocontextos ao longo das décadas para tentar entender alguma estruturação do presente, breve ponto de parada e mirante para o agora, de onde o olhar se lança como desejo de caminhada para o futuro imediato: aberturas, saídas, alternativas.
O território espaço/temporal: uma geopolítica do sistema das artes visuais no Brasil
Num fluxograma de tendências ampliadas, pode-se dizer que a contemporaneidade da arte brasileira iniciou nos rompantes libertários dos movimentos artísticos e de contracultura em torno dos anos 60/70 – Concretismo, Neoconcretismo, Nova Objetividade, Tropicália, Lygia Clark, Hélio Oiticica –, incluindo aí também as participações de determinados momentos institucionais e outros acontecimentos específicos, como Bienal de São Paulo, o MAM-RJ e MAC-USP dos anos 70, a exposição Do Corpo à Terra; passando por um período de reconfiguração da experiência de linguagem como arte de crítica social, subversão e protesto contra a ditadura nos anos 70 (Cildo Meireles, Carlos Zilio, Antônio Manuel); e reorientou-se como busca relacional e de inserção sociocrítica em ações dos grupos de artistas nos anos 80 (Espaço N.O., 3NÓS3, Sensibilizar, Paulo Bruscky e Daniel Santiago, A Moreninha, etc). Nesse momento, essas ações coletivas foram se diluindo do panorama, perdendo intensidade para um refluxo estético então emergente, em parte denominado de retorno à pintura, que foi conquistando espaço com a abertura política de 1985.
Uma questão que fica no ar: por que, com o fim da ditadura no Brasil, o circuito de artes visuais se reconfigurou de maneira tão diversa ao que era antes? Uma parte considerável da resposta tributa-se à eficência com que a ditadura realizou seu trabalho de desarticulação da oposição, da intelectualidade crítica e das instituições culturais públicas. E uma outra parte, também bastante considerável dessa mesma resposta, enuncia que a abertura política coincidiu com um boom do neoliberalismo mundial, que encontrou um campo aberto e pouco resistente à sua expansão local. Uma terra arrasada, por assim dizer, com instituições culturais enfraquecidas, com uma intelectualidade desfalcada e com a psiquê coletiva de seu povo ainda abalada depois de 20 anos de repressão e perseguição ideológica. No meio das artes visuais essa globalização capitalista parece ter ecoado como uma exagerada expectativa em relação ao mercado de arte, seus valores e práticas, expectativa essa ligada também à emergência de um mercado interno brasileiro. Era como se todos (ou quase) quisessem ser Andy Warhol, ou até mesmo um Jackson Pollock, para acessar algum quinhão daquele mundo de fama e dinheiro que parecia ser a sociedade estadunidense e seu modo de vida descompromissadamente consumista: os EUA, os proclamados vencedores da guerra fria. É irresistível comparar (e constatar as perdas) as mudanças de paradigmas entre o artista de antes – intelectual crítico, experimentador de realidades, ampliador das linguagens, subversivo, preocupado com o diálogo social de sua obra –, em relação à nova concepção que começou a predominar após a metade dos anos 80 – o artista profissional que se adequa às demandas intitucionais e de mercado, que experimenta seu trabalho novamente pautado pelas especificidades de linguagem e discurso formalista, que busca construir sua carreira unicamente dentro de museus e galerias. É quase incrível perceber como nas décadas imediatamente subsequentes a postura crítica e experimental do artista começou a ser desqualificada e rotulada como uma manifestação datada, moda que passou, algo demodé, numa superficialidade argumentativa digna de uma campanha publicitária mercantilista.
Faz sentido dizer que a sociedade brasileira – e dentro dela o meio cultural (e dentro ainda o artístico) – sofreu dois golpes de longa duração, um Golpe de Estado, em 1964, seguido de um golpe de mercado após a abertura política, que também teve seu efeito prolongado por “quase” sucessivos três governos de direita que se elegeram democraticamente após um governo de transição . E o fato desses governos terem sido escolhidos em eleições diretas é um indicativo de como a ditadura civil/militar no Brasil foi eficiente em introjetar na sociedade algum sentimento conformista, de conivência com o opressor. Parece ter demorado demasiado para cair a ficha de que, de fato, os militares no Brasil sempre estiveram aliados da elite econômica local (inclusive dos empresários dos meios de comunicação de massa); ou seja, não haveria milagre capitalista nenhum a se realizar, pois o País da concentração das riquezas e da injustiça social era, assim, o mesmo antes e depois da abertura política. Mesmo estando com maior liberdade, de cara nova e com a esperança também renovada. O sonho nacional que continua a fazer sentido em ser desejado é de outra ordem, o desenvolvimento social.
A tradição no Brasil mostra, também, que a maioria de sua intelectualidade é historicamente aliada da elite econômica dominante e que essa tem vínculos de afinidade e dependência antes com a elite econômica internacional, que com a população de seu próprio País. Muitos já refletiram sobre esse contexto , mas essa ainda não é uma literatura que se ensine nos cursos de arte universitários, os quais, em sua maioria, insistem em querer conceber greenberguianamente as disciplinas da arte como algo à parte do mundo, vivendo numa bolha autoreferente e restrita à própria história da arte. Missão acadêmica das mais esquizofrênicas essa, ou simplesmente comprometida com as mesmas elites e mercado, pois como ensinar arte contemporânea, Joseph Beuys, Cildo Meireles, Hans Haacke e tantos outros, subestimando-os ou esvaziando-os da dimensão política de suas obras?
Seria surrealista aqui lançar um olhar sobre a paisagem (espaço/tempo) imaginando-a sem contiguidade com outros territórios que estejam além do horizonte. Uma montanha flutuando no espaço. Falar sobre uma amnésia geracional no meio das artes visuais, ou numa ruptura de paradigmas, sem considerar uma amnésia social de maiores proporções. De fato, o próprio termo amnésia coletiva surge como inapropriado, pois considera o fenômeno como algo espontâneo, emanado de algum distúrbio natural do povo brasileiro. O que vivenciamos está muito mais para a sequela de uma lobotomia social programada: a ditadura perseguiu, torturou, extraditou e matou opositores, inclusive intelectuais; censurou a imprensa e a produção artística; restringiu a atuação das instituições culturais públicas, intimidou a sociedade. Complementando o quadro programático de agir ontem para garantir o esquecimento e a manipulação no presente, a ditadura suprimiu o ensino das disciplinas Sociologia e Filosofia nas escolas (em 1971), situação que perdurou por quase 40 anos , influenciando dessa forma uma maior alienação social e menor capacidade do exercício crítico por parte da população. Nas artes visuais houve uma desarticulação do repasse de conteúdos das gerações anteriores para as mais novas, principalmente sobre essa recente ancestralidade mais crítica e experimental. Com o pensamento crítico e a subjetividade em processo de varredura, a introjeção de valores-padrão, através da indústria cultural e da publicidade, passou a conquistar amplos territórios no imaginário coletivo .
De alguma forma, isso ajuda a explicar a oscilação bipolar pela qual esteve sujeita nossa cena de artes visuais, passando de uma postura experimental, radical e crítica – até os anos 70 e início dos 80, já num movimento minguante, por assim dizer – para outro posicionamento: acrítico, conformista e mercantil. Seria muito simplista achar que essa mudança foi só resultado de um desbunde de liberdade e sincronização sem atritos com uma cultura universalista advinda da globalização. A própria incompreensão generalizada entre os agentes culturais do meio, ao referirem-se ao circuito de arte como mercado de arte, revela alienação sobre as práticas sociais e traduz o quanto a ideologia de mercado já habita com naturalidade um certo inconsciente coletivo nas artes. Pois há diferenças conceituais e de predominância de valor entre concepções como arte, circuito de arte, economia da arte e mercado de arte.
Com a situação assim posta, ou pior, assim desarticulada, os eleitos governos neoliberais do Brasil elaboraram seus projetos políticos para a cultura e as artes, ou seja, eximiram-se ainda mais de sua responsabilidade pública: arte e cultura foram repassadas ao mercado, à indústria cultural, à cultura do espetáculo. Essa privatização da cultura foi instituída, por um lado, através de mecanismos públicos de incentivo, as Leis de Incentivo (em especial o “Mecenato” da Lei Rouanet, Federal, que inspirou alguns outros modelos Estaduais e Municipais). Em outras palavras, muito da produção cultural e artística do Brasil passou a ser gerida por empresas culturais privadas e seus departamentos de marketing, só que com dinheiro público, de isenção fiscal. E vamos aí mais 13 anos nessa onda, de Collor à FHC. Em paralelo, sob o slogan de enxugar a máquina estatal (Estado mínimo), as instituições culturais públicas foram progressivamente desmontadas e enfraquecidas, ausentando-se mais e mais de uma atuação social. Com as vagas abertas, e os instrumentos financeiros criados, as empresas viram seu novo filão de atuação, a área cultural, um investimento sem custo, de lucro simbólico garantido, pois projeta a marca da empresa socialmente através de publicidade gratuita. Melhor ainda quando tudo isso se faz no espaço físico da própria instituição privada de cultura, potencializando os lucros não mais só para o âmbito da imaterialidade – o fortalecimento da marca –, como também para a própria materialidade das coisas – na requalificação de seus arquivos de dados, de seu acervo, de seus projetos, de sua equipe de profissionais especializados e, até, na melhoria de seu espaço físico e equipamentos. Assim cresceu o Itaú Cultural, destacado player desse sistema, o que melhor soube usar a conjuntura social de um Ministério da Cultura ausente (durante os governos liberais) e a oportunidade da Lei de Incentivo à Cultura a seu favor, tornando-se inclusive o maior beneficiário dela, como proponente de projetos . É como se diz na política tradicional: “na política não há vácuo”. Minimizando a dimensão política dos fatos, se possível, pode-se reconhecer que o Itaú Cultural realizou bons projetos, de relevância cultural (e talvez isso até sirva de consolo para alguns). Existem muitas outras grandes empresas atuando no campo da cultura através da Lei Rouanet, como a Petrobras, por exemplo, que é de longe a maior empresa financiadora de atividades artísticas e culturais no Brasil . Entretanto há de se fazer diversas distinções entre elas, a começar pelo fato de que muitas atuam somente no campo do financiamento à cultura (como a Petrobras), ou seja, apoiam projetos de diferentes proponentes da sociedade civil, inclusive pequenos e médios produtores, e sequer investem em si mesmas através de renúncia fiscal. Há de se destacar que essa segunda postura é bem mais coerente com o que pode haver de fundamentação social numa Lei de Incentivo à Cultura, no que tange à sua modalidade de “Mecenato”.
No anos 90, para além da atuação de alguns museus e da Bienal de São Paulo, o circuito institucional de arte estava restrito praticamente à política das tradicionais mostras e salões de arte empreendidas pelas Secretarias de Cultura Estaduais ou Municipais, como o Salão Paranaense, o Salão Pernambucano, Salão de Artes da Bahia, a Bienal Nacional de Santos, o Salão do Pará, a Mostra da Gravura Cidade e Curitiba, entre muitos outros do mesmo formato que se multiplicavam pelo país. Com um Ministério da Cultura e a Fundação Nacional de Arte quase fora da cena nacional (o Salão Nacional de Artes era uma de suas poucas iniciativas, assim abrangente, perdurando até 1996), o território das artes visuais viu eclodir diversos projetos de mapeamento da produção artística brasileira protagonizados por empresas privadas, financiados pela Rouanet, como o Antártica Artes com a Folha (1995), o ABRA/Coca-cola de arte atual (1998) e mesmo o Rumos Itaú Cultural (desde 1997). O SESC também empreendeu e financiou sua própria cartografia cultural com o Balaio Brasil (2000). Esses mapeamentos foram como curadorias-relâmpago, nas quais a curta permanência de um ou dois dias do curador em cada cidade haveria de ser suficiente para se tentar conhecer a produção local, acessar e selecionar participantes, fato indicial do quanto essas avaliações foram, em princípio, pré-acordadas com informantes ou aliados dos circuitos locais. A retórica de uma pesquisa curatorial estaria praticamente limitada a uma escolha à la carte num cardápio de artistas oferecida pelo mainstream da localidade. Alguns salões de arte nacionais passaram por uma reformulação buscando valorizar o trabalho dos artistas instituindo pró-labores para todos os participantes (Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte, 1997; Salão Nacional da Bahia, 1998). O senso comum nessa época, para um jovem artista que quisesse se inserir no circuito, era tentar ser selecionado em salões de arte, estar numa galeria comercial ou ser chamado a participar de alguns desses mapeamentos da produção. O melhor seria estar nas três opções. Pouco se falava de ações ou intercâmbios de grupos de artistas, de busca de diálogo social direto do artista com o público, ou do artista como intelectual crítico, inclusive capaz de desempenhar outras funções dentro do circuito. A internet não estava popularizada, nem mesmo o uso dos computadores pessoais. As publicações de pesquisa crítica sobre a arte contemporânea brasileira eram raras e mal circulavam, assim como as exposições do gênero. Havia uma grande desinformação sobre arte contemporânea, principalmente brasileira, e uma conformação à estrutura institucional e seus valores. Ser artista era se inserir no circuito instituído, esse era o espírito da época, a falta de espírito.
Quando se fala em mercado de arte no Brasil, vale notar tratar-se de uma concepção ainda bastante retrógrada, calcada basicamente na venda do objeto artístico, geralmente de cunho também decorativo, numa relação na qual praticamente nem se cogita considerar o “valor de exibição” do trabalho intelectual do artista visual como o produto a ser negociado, o acontecimento cultural em si, independente da venda do objeto. Sem falar nos percentuais exorbitantes de lucro do galerista sobre o trabalho do artista, uma prática vampiresca. Entretanto, se esse é o costume, é porque há consentimento. Na dita contrapartida, a galeria busca projetar o nome do artista (como uma empresa faz com sua logomarca). E paga curadores para legitimar seus “produtos”, curadores que podem vez ou outra ocupar o cargo de alguma instituição pública ou de um grande evento, abrindo novos nichos de mercado, espelhando compromissos anteriores agora num contexto público/privado. As galerias de arte e os eventos de cartografia da produção artística empreendidos pelas empresas culturais projetaram para a crista da onda a figura do curador e poucos deles, ou quase nenhum, precisou justificar sua nova posição na hierarquia social a partir de pesquisa ou texto crítico, restringindo seu labor a golpes de vista e a meros textos de apresentação de catálogos de arte . O espaço de poder alcançado pela figura do curador dentro do circuito de arte, na maioria dos casos, foi antes uma consequência de mercado a um reconhecimento de mérito. Nos anos 90 o circuito de galerias comerciais cresceu, principalmente em São Paulo, e criou ramificações em outros centros urbanos. A expansão e homogeneização do circuito de arte no Brasil até quase o final dos 90 foi um fenômeno principalmente de ordem mercadológica.
Do final dos anos 90 ao presente, principalmente a partir do ano 2000, o ambiente começou a se transformar, esboçando uma paisagem realmente mais aberta ao debate crítico. Entre outros fatos, alguns acontecimentos ganharam corpo na cena contemporânea brasileira das artes visuais: o fortalecimento do meio editorial e a maior circulação de conteúdos (textos, livros e revistas de arte), a publicação de pesquisas críticas e a organização de exposições focadas numa reflexão sobre a arte contemporânea brasileira; o fortalecimento do ambiente institucional de arte (tanto o privado, quanto público); o surgimento de novos cursos de graduação e pós-graduação em arte; uma maior visibilidade mundial da produção artística brasileira e um subsequente interesse aquisitivo internacional sobre esse nosso capital simbólico; a popularização das redes de informação e discussão pela internet; a emersão e intensificação de circuitos artísticos autônomos – o fenômeno dos coletivos de artistas.
É inquestionável que com a chegada de Lula à presidência, a partir de 2003, e a instauração de um governo focado no desenvolvimento social, deu-se também uma mudança radical de postura do Estado frente à cultura, pois iniciou-se um resgate da responsabilidade pública do Ministério da Cultura pela guarda e fomento do patrimônio artístico e cultural brasileiro. O MinC, a Funarte e o IPHAN ressurgiram no cenário como importantes instituições do meio, buscando se estruturar em diversos níveis de atuação, enfim atingindo o território nacional em processo descentralizado de formato, curadoria e gestão de projetos culturais através de editais públicos. Das instituições e museus estatais espera-se isso mesmo a partir do presente: que estejam suficientemente fortalecidas em sua estrutura, propósito público e linhas de ação para não mais oscilarem em suas políticas culturais conforme ocorram mudanças de governo. Está em processo de criação o IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), visando integrar e requalificar os museus brasileiros. Em paralelo, instaurou-se intenso processo de discussão participativa sobre as políticas públicas para o setor artístico e cultural através dos Colegiados Setoriais de Arte, dos Pontos de Cultura, do Conselho Nacional de Cultura, das Conferências Nacionais de Cultura (e suas etapas predecessoras); instâncias que convergem para um inédito Plano Nacional de Cultura. Há, na atualidade, um projeto político integrado e abrangente para as áreas artística e cultural por parte do Estado brasileiro, com recursos financeiros expressivos para o setor. Hoje a área da cultura não está mais relegada pelo Estado ao âmbito do mercado, como se fosse uma atividade alheia à sua responsabilidade, cujos valores estariam restritos ao campo das finanças. O entendimento sobre a dimensão simbólica da produção cultural e artística re-ocupa seu lugar pertinente . Essa reavaliação de responsabilidade cultural reverbera também nos Estados e Municípios. Complementarmente, a realização das edições do Fórum Social Mundial no Brasil, como contraponto do Fórum Econômico Mundial, passou a evidenciar toda uma reflexão autocrítica sobre as sociedades – a brasileira, as latino-americanas, as do Hemisfério Sul – e suas possibilidades de trocas e integração culturais, não apenas numa relação de compra e venda.
Porém, os bons novos ares do ambiente não significam ainda uma garantia permanente. Uma política cultural pública deve ser entendida também como responsabilidade do Estado, e não somente de um Governo. Mais fundamental ainda, é a cultura ser uma constante reinvindição pública da própria sociedade como um bem simbólico coletivo – material e imaterial – a ser acessado, mantido e incentivado. Se a cultura não estiver, assim, enraizada como uma necessidade pública, continuará vulnerável a novas rajadas de ventos neoliberais, que poderão deitar por terra algumas conquistas, e novamente reduzi-la à condição de bem de consumo, espetáculo, negócio, hobby, ou produto de luxo para poucos.
Ao manter o olhar sobre esse período do final dos anos 90 aos anos 2000, percebe-se que novas e fortes instituições culturais surgiram no meio das artes visuais, a exemplo da Bienal do Mercosul, o Santander Cultural, o Instituto Tomie Ohtake, a Fundação Iberê Camargo, o Inhotim. Enquanto outras firmaram e expandiram socialmente suas ações, como a Associação Cultural Videobrasil e o SESC. Alguns museus regionais souberam se colocar nacionalmente com autonomia e critério de atuação, como o MAMAM-PE e posteriormente, num período mais restrito, o Centro Dragão do Mar-CE. O SPA das Artes – PE tornou-se importante agregador da produção jovem mais experimental e processual. Antes, a Bienal da Antropofagia (24ª Bienal de SP – 1998) já havia inscrito suas reflexões com grande relevância dentro do debate crítico nacional e internacional. Redes autônomas de informação e debate pela internet se firmaram socialmente, como o Canal Contemporâneo, o Corocoletivo e o Fórum Permanente.
Surgiram também (e sucumbiram na mesma velocidade) grandes eventos oportunistas, como o Faxinal das Artes – PR, de fundamentação e estruturação equivocadas, e com finalidade obviamente eleitoreira (ou propagandística) por parte de um ex-governador. O debate público pode ajustar ou transformar as políticas culturais até de grandes empreendimentos empresariais na medida em que se clareiem os distintos interesses, práticas e responsabilidades dos setores público e privado. O território cultural é muito dinâmico, e mesmo protagonistas do setor tidos como dominantes, imprescindíveis ou impreteríveis podem sucumbir em suas próprias intenções, ou práticas ilícitas, como mostra a história recente da até então badalada empresa cultural Brasil Connects e seu aliado Banco Santos.
Hoje, um jovem artista, ao escolher por qual caminho seguir dentro do complexo sistema das artes, encontra uma diversidade de contextos e opções. Do artesão requintado que produz para o consumo de uma elite econômica descompromissada com seu entorno social, ao produtor intelectual que reavalia criticamente a dimensão simbólica da sociedade em que vive. Do fazedor de objetos para atender às demandas do mercado e da instituição, ao articulador de redes e circuitos de produção e trocas culturais autônomos. Em qual circuito se inserir? Qual arte se quer fazer? Que artista se quer ser? Diferentemente dos anos 90, hoje a reflexão crítica sobre o sistema das artes está posta em vários níveis. E a informação circula. Estar alienado é improvável. O embate é de valor e de opção.
Na imanência dos acontecimentos do território dado – essa sobreposição mutante de espaços/tempos dos circuitos de arte no Brasil –, a contingência de maior interesse aqui é refletir sobre dois aspectos a princípio antípodas que marcaram os últimos anos: por um lado, o fortalecimento do circuito institucional de arte, e por outro, a disseminação dos circuitos artísticos autodependentes. O desejo é remexer em parte dessa geografia, ajustar topografias e visualizar novos lugares e caminhos que possam ser opção para seguir adiante. Transformar uma paisagem-trouvée, por vezes inóspita, num habitável território inventado.
Paisagem nebulosa: embaraços administrativos remanescentes no circuito institucional
Depois de todo esse percurso contextual e histórico, as conjecturas feitas podem ajudar a entender alguns fatos que permanecem como nebulosos na estruturação do atual circuito institucional de arte no Brasil. Exemplos: uma importante instituição privada de cultura e um importante museu de arte serem presididos pela mesma pessoa (Itaú Cultural / MAM-SP). Duas distintas instituições públicas serem dirigidas pela mesma pessoa (Paço das Artes / MIS-SP). Um museu que tem como diretora a esposa do ex-Governador do Estado, sendo esse o seu maior mérito específico para ocupar o cargo (Museu Oscar Niemeyer – PR). O Conselho Administrativo do maior projeto institucional de arte do Brasil e um dos mais respeitados no mundo ser composto por um grupo profissionalmente despreparado para gerir um empreendimento desse porte e perfil, além do próprio evento não possuir um planejamento de longo prazo adequado para sua realização (Bienal de São Paulo ). O Portal na internet de um órgão do Ministério da Cultura ter ficado mais de dois meses no ar indicando ter sido patrocinado por uma empresa privada e outra de capital misto (Portal Funarte ). O acervo com a obra de um dos principais artistas da arte contemporânea brasileira continuar exclusivamente como herança da família, em detrimento do interesse sobre a obra como patrimônio cultural nacional, mesmo os familiares já tendo recebido grandes investimentos públicos para a guarda e conservação da coleção (acervo Hélio Oiticica). Dois espaços públicos Federais de arte estarem há anos subutilizados (Funarte-SP; Funarte-DF). Um museu público Federal que está há mais de 15 anos sendo dirigido pela mesma pessoa (Paço Imperial ). Num campo inversamente problemático, a descontinuidade de projetos culturais institucionais e a falta de formação específica de muitos dos gestores institucionais da área artística, cujos cargos continuam a ser indicados, na maioria dos casos, antes como resultado de alinhamento partidário e político com os governantes, do que por consequência de mérito profissional. O segundo maior acontecimento institucional de arte do Brasil, que se sabe lá por que motivo não paga pró-labore para artistas [Bienal do Mercosul ]. O maior prêmio nacional de arte e tecnologia ser dedicado a um ex-Ministro das Comunicações responsável pelo polêmico ato de privatizar todo o sistema de telefonia do país, como se não existissem, em nossa história, artistas e teóricos que realmente tenham feito alguma contribuição de ordem cultural no âmbito da pesquisa artística e produção crítica focados em arte e tecnologia (Prêmio Sergio Motta). E por último, nessa breve lista de imbróglios culturais e administrativos, um dos mais expressivos problemas vinculados ao sistema de arte no Brasil, que transpassa e articula-se com vários dos outros já elencados, e que no momento passa por uma profunda reavaliação: o uso excessivo da Lei Rouanet para financiar projetos de grandes empresas culturais e a cultura do espetáculo, e a interligada situação de concentração de quase 80% dos recursos na Região Sudeste, especialmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro . Essas são algumas questões, de conhecimento público, que precisariam, no mínimo, ser revistas e arrumadas para se imaginar um melhor funcionamento do circuito institucional de arte brasileiro. São questões associadas à distorção de função de políticas públicas, concentração de poder e, também, ética e transparência na gestão institucional.
Qual é o simbólico que nossa sociedade enaltece, quem são nossos heróis culturais, quem homenageamos? Hélio Oiticica, Lygia Clark, Cildo Meireles, Mário Pedrosa, Walter Zanini, Frederico Morais, Waldemar Cordeiro, Vilén Flusser. Nossa cultura tem história, tem ancestralidades. Por que ainda hoje os dois maiores prêmios do meio das artes visuais e tecnológicas são dedicados a um galerista (Marcantonio Vilaça) e a um ex-Ministro privatista da era FHC? Não dá para confundir Zumbi dos Palmares com Roberto Marinho.
Apoiar projetos artísticos é estratégia usada pelas empresas privadas para melhorar sua imagem pública, também como uma espécie de compensação social, no caso de empreendimentos vinculados às polêmicas atividades de alto impacto ambiental (como a mineração, a exploração de petróleo), ou que geram prejuízo à saúde (a indústria do cigarro); e também, em situações nas quais há grande insatisfação pública pelos maus serviços prestados por algumas companhias (como no caso das operadoras de telefonia ). O exemplo mais clássico de assédio empresarial à dimensão pública da arte como forma de melhorar a receptividade social da logomarca foi o da indústria de cigarro, apoiando eventos artísticos, até quando puderam fazer isso, antes da proibição legal definitiva no Brasil (no caso das artes visuais, houve o itinerante Free Zone, em 2001, “incentivado” pela Souza Cruz). Há casos em que o encontro das dimensões públicas da atividade empresarial e da artística, através do marketing cultural (inclusive com uso incentivos fiscais…), vão muito além da busca de uma melhora da imagem pública por parte da empresa, podendo constituir-se numa oportuna (e criminosa) estratégia para lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas de diferentes ordens.
A questão não é ser contra o investimento privado em arte por parte das empresas. Elas que o façam, com recursos próprios, provando realmente considerar a produção artística e cultural algo estruturante da sociedade, acreditando em si mesmas como parceiras dessa construção coletiva. Fazer só com dinheiro público é engodo. Fazer só para limpar sua imagem pública é hipocrisia.
Da parte dos artistas e de outros agentes culturais do meio, inclusive da área da teoria, há os que hoje consideram indiferente associar-se e adaptar-se a qualquer parceiro institucional do circuito de arte (público ou privado), desde que esse esteja injetando recursos financeiros na atividade artística. A rastreabilidade do financiamento dos meios de produção, prática já há algum tempo comum em outros setores sociais, ainda se apresenta como algo quase inédito no meio artístico. É como se fizesse parte da natureza das coisas vincular-se indiscriminadamente a qualquer logomarca das grandes empresas, pois isso teria passado a ser o inevitável e inquestionável fundamento do circuito artístico contemporâneo. Num dos extremos dessa perspectiva da produção artística atrelada ao capitalismo, começam a inscrever-se determinados segmentos da produção artística tecnológica, quase como sendo a última etapa do processo de produção industrial, o último funcionário à beira da esteira da produção em série, o artista como um piloto de testes da própria empresa. Entretanto, isso não é regra, pois no contexto tecnológico (e no artístico tecnológico) repercutem grandes conflitos sociais, nos quais o conhecimento e o desenvolvimento de pesquisas também travam seus embates enquanto propriedade privada ou bem público. Conceber a rede de financiamento da produção como algo neutro ou indiferente faz parte da concepção que vê o campo de atuação artística como um circuito branco. A reboque desse discurso, dessa prática pretensamente neutras e de livre trânsito entre arte e mercado, constrói-se um esvaziamento do discurso crítico. Tenta-se diluir a força política de repertórios artísticos da contracultura. A quem interessa financiar essa arte de circuito branco, feita em pretensos campos neutrais? Interessa aos que lucram com o atual estado das coisas, obviamente. Pois é fundamental ter aliados para que as coisas permaneçam como estão. Aliados criativos que reificam e renovam o campo simbólico como continuidade da mesma ordem tornaram-se ainda mais especiais e desejados.
Esses nebulosos campos de valor simbólico são também lugares que se apresentam às artes visuais, frente aos quais elas não podem se fingir de cegas.
Trilhas alternativas: autogestão de circuitos artísticos
Na história da arte brasileira, o recente fenômeno dos coletivos de artistas é algo tão expressivo quanto o foram a Semana de 22, o Concretismo, o Neoconcretismo ou a Tropicália. Enunciar isso não é exagero, nem premonição de legitimação histórica, é avaliação crítica. A contribuição mais expressiva desse contexto emergente foi ter atravessado e chacoalhado o sistema institucional de legitimação cultural nas artes, inserido nele diferentes possibilidades de articulação de circuitos de arte em vários níveis de atuação: produção artística e reflexiva, mecanismos de circulação de conteúdos, trocas simbólicas, intercâmbios de artistas. Novamente o espaço público foi trazido à tona como campo de debate crítico. Esses circuitos artísticos autodependentes ou circuitos artísticos heterogêneos ultrapassam a questão de um programa estético, eles incorporam a própria noção de circuito como matéria-prima e possibilidade criativa. Recolocam com maior ênfase no campo do debate público questões vinculadas à prática da arte processual e conceitual, de crítica institucional, o happening, a ação multimídia, a performance, a intervenção urbana, a arte de envolvimento social, o trabalho colaborativo, a autogestão cultural nas artes visuais, o ativismo cultural.
Já há 10 anos que o sistema das artes no Brasil convive com esses novos circuitos artísticos autônomos, os quais dialogam também com os circuitos institucionais mais tradicionais. Em diferentes momentos da história recente, esses circuitos autodependentes constituíram-se como algumas das maiores fontes fruidoras e aglutinadoras da discussão artística em diferentes regiões – como o Torreão (Porto Alegre), Agora/Capacete (Rio de Janeiro), CEIA (Belo Horizonte), Ocupação Prestes Maia (São Paulo), Alpendre (Fortaleza), entre muitos outros. A questão da autonomia – existencial, de diálogo, e de proposição – é fato fundamental para se pensar tanto o circuito de arte, como a sociedade. Uma sociedade, por mais complexa, multicultural e populosa que seja, não pode fundar sua identidade balizada por expectativas de um Estado ou mercado. Num mesmo sentido, também os circuitos de arte não haveriam de ser, simplesmente, provedores das demandas das instituições e do mercado.
Está claro que a autonomia da arte da qual se fala aqui é de ordem existencial, política e também poética, porém, não no sentido de uma dissociação da arte da sociedade, como o pensamento modernista da autonomia das linguagens específicas, tampouco como a exacerbação dessa expectativa, a exemplo de alguns dos paradigmas artísticos minimalistas, como uma arte de pura presentificação (“simples exterioridade”), sem uma interioridade relacionada ao psicológico do artista, ou uma exterioridade relativa ao contexto social . A autonomia de afirmação de circuitos e a autonomia de diálogo simbólico aqui argumentados são extensões da arte rumo à sociedade e seus códigos culturais.
Entretanto, os coletivos de artistas estão na moda e nessa condição alguns fundamentos críticos podem ser esvaziados na aparência do fenômeno (prática de diluição essa bem ao gosto do mercado) . Ou será que já saíram da moda? É tudo tão rápido no mundo do marketing, pois é preciso criar novas necessidades sazonais, novos produtos e novos consumidores…
Para que a potencialidade mais singular, crítica e radical dos circuitos autodependentes possa prosperar, longe da anestesia conformista e da redução a mero aspecto de uma moda passageira, há de se fortalecer os fundamentos que singularizam a própria experiência.
Um outro olhar sobre o território: reinvenção de um simbólico coletivo
Está em curso um lento e complexo movimento de reconstrução da subjetividade coletiva da sociedade brasileira, depois de décadas de ditadura e neoliberalismo. É um acontecimento com ampla participação dos setores culturais e facilitado pelo Estado. Os Pontos de Cultura , algumas dessas ações, facilitadas pelo Estado, têm oportunizado grande incentivo à reorganização e instrumentalização social, inclusive no campo da inclusão digital, passando a ser um referencial de convergência dos movimentos sociais e das diversidades culturais. Seu atual lema “empoderamento / autogestão / protagonismo” lembra da força do sujeito na construção de sua história e traduz a importância da participação popular na criação e execução de políticas públicas, sendo ideário que vai de encontro a anseios e práticas de outros grupos da sociedade civil organizada. O que se quer é que as heterogeneidades culturais possam conviver e prosperar num País mais justo.
Os circuitos artísticos autodependentes também empreendem seus movimentos de redesenho do circuito das artes, em paralelo aos diversos grupos, movimentos sociais e coletivos ciberativistas. Começam a se estabelecer algumas intersecções e confluências de caminhos. Ao se pensar a função social da arte, faz muito mais sentido que os artistas, coletivos de artistas ou circuitos artísticos autodependentes estejam aliados aos movimentos sociais, do que meramente atendendo demandas do mercado. Entretanto, falta ainda para à maioria desses circuitos artísticos autodependentes um aprimoramento de consciência sobre o próprio fenômeno, uma maior autocrítica e politização, uma melhor fundamentação de valores e objetivação de práticas comuns; enfim, falta uma melhor qualificação e estruturação das redes autônomas, um upgrade. Quanto maior for a consciência sobre a potência da própria ação, melhores serão as condições relacionais entre os integrantes de cada grupo, entre os grupos e circuitos, e entre estes e a sociedade. E melhores serão também as condições de sobrevivência e de existência de seus propositores. A partir disto, o diálogo ampliado com o sistema das artes e sociedade pode ser inventado com maior autenticidade, se tornando mais transformador.
O sistema das artes no Brasil ressente-se ainda de distorções conceituais e processuais, como se mostrou, inclusive subjugando valores culturais e artísticos a práticas meramente mercantilistas. Esse sistema precisa ser modificado. Sem desmerecer a força do ato individual como potência de consciência, sabe-se que qualquer nova base de valores criada no âmbito das artes só terá condições de sustentabilidade quando isso for manifestação do desejo coletivo.
Na instauração dos próprios circuitos de trocas culturais, necessita-se, também, ser crítico em relação aos lugares institucionais pelos quais se transita e aos interlocutores que se escolhe. A recusa pode ser, também, uma alternativa crítica, preferencialmente acompanhada da publicização do ato, para melhor contribuir para o debate público. Diante da falência simbólica de um sistema das artes impregnado de ideologia capitalista, ressurge como alternativa buscar alimento em outras fontes de repertórios culturais, de práticas populares e de experiências de épocas específicas, que por diferentes motivos tenham sido eliminadas, abafadas ou subestimadas ao longo da história oficial, tentando acessar e incorporar essas outras riquezas de conteúdos, significados e formas de agir. Esse outro conjunto de valores pode contribuir na reinvenção dos circuitos de arte, da sociedade e mesmo de uma memória e subjetividade coletivas.
Assim, algumas inspirações para novas táticas:
– Estratégia MST: os sem-terra não são excluídos da sociedade, e nem se sentem assim, querem estar incluídos, só que numa outra ordem social, que oportunize qualidade de vida e desenvolvimento social. Por isso se organizaram no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, para contestar, reivindicar, propor e agir. Pois aceitar as atuais regras opressivas do agronegócio latifundiário e monoculturista seria, aí sim, querer ser excluído, pois endividados e pressionados, logo teriam de vender suas terras e migrar para as favelas nas cidades. Assim é com o mercado de arte. Não se trata querer estar fora do mercado, ser um artista sem galeria. Entretanto, para que haja um desejo de inclusão nesse sentido, haveria de existir um outro mercado de arte, que considerasse o valor de exibição da produção artística (e não só a venda do objeto), que apoiasse o custeio de produção de uma obra, que trabalhasse com percentuais de lucro menores sobre a venda, que lidasse com o artista primeiramente como um produtor intelectual e não como uma marca a ser projetada para ganhar status. Essa postura aplica-se também nas relações de trabalho e exibição junto às instituições. Outro mundo é possível, inclusive no mercado de arte.
– Mais envolvimento social: numa obra artística de conteúdo social é fundamental que a distância entre a teoria e a prática seja mínima. Para que o conteúdo social de um trabalho não passe a figurar somente como tema ou linguagem, o que poderia gerar um esvaziamento de significado, o artista deve buscar um contato real com o referente de sua investigação, as pessoas e comunidades que habitam as palavras. É pouco somente apropriar-se de uma imagem ou de um contexto vinculados a uma determinada conjuntura social, usando-os estritamente como recurso de linguagem. Há uma necessidade real de trocas simbólicas, uma necessidade do encontro humano, de uma imersão, de identificação de caminhos comuns, de um redesenho das forças produtivas, de um trabalho colaborativo e de participação criativa. Há comunidades tradicionais e populares em risco de extinção de seus modos de vida, diante da padronização global dos comportamentos veiculados pela indústria cultural, pelos meios de comunicação de massa e pelo consumo inconsequente dos produtos da sociedade industrial. O artista, como potencial mediador cultural que é, pode solidarizar-se com as culturas tradicionais e, quando possível, contribuir na busca de soluções que preservem a diversidade ou facilitem hibridizações. Um trabalho de arte que surja desse encontro deve resguardar, enquanto potência de linguagem, algum valor da diferença cultural ou da condição de conflito. A ideia de uma intelectualidade crítica associada em ação direta a comunidades ou movimentos populares não é uma proposta nova, entretanto continua sendo uma prática rara e necessária.
– Compartilhamento, colaboração, mutirão, pixirão, moitará: esgotada qualquer esperança no capitalismo, de que alguma humanidade melhor possa brotar de um sistema que apregoa a desigualdade social, a concentração de riquezas, a competição e a exploração do trabalho entre as pessoas, é tempo de nos voltarmos para outros exemplos de práticas sociais que oportunizam diferentes formas de relação humana e de produção e trocas culturais. A hora de buscarmos a transposição e a tradução dos ensinamentos de culturas tradicionais, tribais e comunitárias, entre as que ainda resistem em seus modos de vida, ou mesmo entre as que já se foram, deixando somente sua memória como legado. Práticas que por fugirem dos padrões capitalistas tradicionais passaram despercebidas ou subestimadas pela grande sociedade urbana ocidental. Buscar adaptar esses conhecimentos a novas práticas da economia da cultura, da economia criativa, da economia solidária. Repensar essas potências relacionais e produtivas também dentro dos circuitos artísticos.
– Cooperativa de arte, feira de produtores, feira de trocas: ao se repensar o mercado de arte, planejar situações nas quais um potencial público consumidor possa adquirir obras de arte direto do produtor, como ocorre em feiras de agricultores: sem intermediários, sem atravessadores, com a garantia da qualidade do produto. O comprador pode ter a oportunidade de conversar com o próprio artista e assim fazer a rastreabilidade cultural da proposta, acessando o ambiente reflexivo que impulsiona seu imaginário, sua poética e produção, evitando assim a propaganda enganosa, alicerçada em argumentos legitimadores de uma crítica comprada, ou o elogio publicitário. Os ambientes dessas situações podem instaurar momentos de encontro entre as pessoas, humanizando as relações.
– Resgate do ideário das Assembleias anarquistas do começo do século XX: o artista visual no Brasil contemporâneo, de uma forma geral, talvez ainda seja, dentre os agentes culturais do meio das artes, o mais alienado do valor de seu trabalho, assim como da definição das políticas culturais para o seu setor. É simplesmente básico dizer que é necessário maior envolvimento e participação. As políticas públicas, e mesmo as privadas, não são para serem somente passivamente recebidas. As políticas são para serem construídas coletivamente. Há um grande descrédito social em relação à política tradicional, seus políticos e partidos, então outros procedimentos políticos tem de ser criados, ou mesmo resgatados. Não é a multiplicação de sindicatos e burocracias que vai transformar o meio. É a discussão pública, o debate crítico, a proposição, e as tomadas de posição coletivas que podem criar uma consciência coletiva transformadora, ou aperfeiçoadora do sistema. O debate público sempre ativado é muito mais fundamental que a legalidade de um sindicato, o qual, como já mostrou a história, muitas vezes acaba por se tornar cooptado pelo próprio Estado e mercado, um anestesiador da voz da própria classe. A experiência das assembleias dos trabalhadores anarquistas do começo do século XX surge como melhor inspiração para um resgate histórico e atualização das práticas, incluindo agora a internet como aliada.
– Incorporar e reativar algumas práticas de alguns dos grupos de militância da esquerda dos anos 70: fortalecer os coletivos de artistas que atuam na autogestão de circuitos culturais a partir de fundamentos como o entrosamento afetivo; interesse e valores comuns em relação às práticas sociais; a vivência e o encontro; estabelecer um bibliografia básica relativa à arte, história, sociologia, filosofia e outras disciplinas focadas no aspecto humano e social, para incrementar um repertório comum. Incentivar valores e práticas reforçadoras da questão identitária, o ethos do grupo, buscando agregar aliados e expandir a ação. Dentre as muitas configurações e práticas dos grupos militantes dos anos 70, essas são inspiradas no grupo Dissidência Guanabara. Complementando essas práticas: ativar redes de intercâmbio entre artistas, inclusive residências e propostas de encontro e trabalho em imersão coletiva, incrementando as relações de amizade e o sentimento de comunidade. Buscar conectar os circuitos de contracultura das cidades brasileiras e mesmo das internacionais. Enfim, várias estratégias que fazem pensar a arte e as relações entre as pessoas de uma forma humanamente mais ampla, diferentemente da impessoalidade, superficialidade, pedantismo, empáfia, esnobismo, burocracia e autoritarismo que muitas vezes regem as conversas nos circuitos tradicionais (institucionais e mercantilistas).
Fazer arte é uma potencialidade básica do ser humano, tanto quanto pensar, ou amar. Em última instância, não importa o reconhecimento institucional ou do circuito de arte, não é o julgamento e a autorização do outro que vai fundamentar a necessidade de uma criação artística. Inclusive porque os instrumentos de aferição e legitimação institucionalizados muitas vezes estão com defeito, e não é de hoje. Fundamental, nesse caso, é criar os mecanismos de legitimação da própria história, cuidar da própria memória, cultivar uma desejada rede social de trocas simbólicas na qual se está inserido. O maior desafio para o artista consiste em conseguir conversar com a sociedade na qual vive através de sua obra. Uma conversa consigo mesmo e entre muitos. O diálogo é a invenção do encontro. No meio da conversa, há uma linguagem da arte, um lugar para a arte, um circuito de arte, uma política cultural para a arte, uma história da arte, uma economia da arte, uma coletividade de artistas (ou tudo isso no plural). O território de atuação do artista é vasto, entre o já conhecido e o ainda imperceptível. Ele pode atuar em diferentes funções simultaneamente. Sujeito individual e coletivo, seu trabalho o transforma numa pessoa pública. Como sujeito capaz de lidar com o imaginário coletivo, sua responsabilidade é grande. Entre algumas das capacidades humanas pelas quais zela estão a criatividade e a liberdade. Na condição de experimentador e compartilhador de estados de consciência, busca estar em sintonia e aberto a outras dimensões complementares do conhecimento e integrado a uma visão planetária.
No território da arte, tudo se inventa durante o percurso: a paisagem, o caminho, a caminhada, o artista.
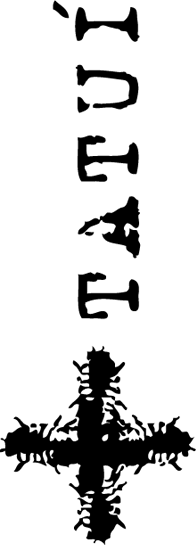
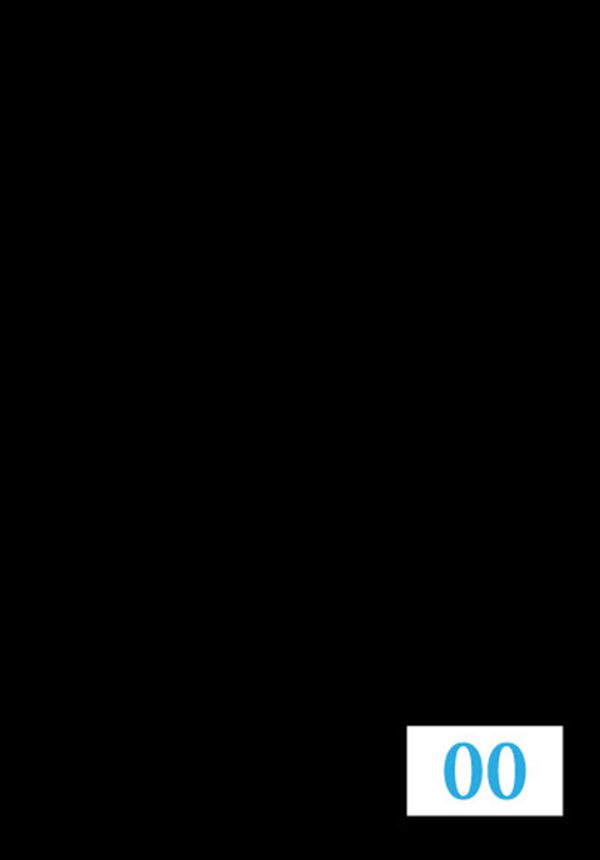






















Comentários