A PRIMA do Hélio, a pemba da marginália, o pó da boemia: anotações —Inside the Héliocopter
Tradução Isabella Atayde Henrique
Vendo o panorama discursivo que enfrentava ao pesquisar sobre as interseções cinematográficas na obra de Hélio Oiticica, percebi que querer falar das instalações quase cinematográficas Cosmococa-programa in progress, como exemplo mais famoso e aparente, necessariamente resultaria na busca de como poder falar em vários planos ao mesmo tempo. Aqui não só se misturam arte e cinema, mas também categorias em um outro plano maior. A cocaína destaca absolutamente a margem de categorias e instrumentação analítica comuns na história da arte. Falar sobre Cosmococa, então, implica sobretudo duas coisas: querer falar do artista considerado o mais famoso dos artistas brasileiros do século XX em nível internacional, Hélio Oiticica; com todo o magnífico e heterogêneo corpo de obras que isso abrange, desde antes dosNúcleos até depois dosQuase-Cinema. E ao mesmo tempo, implica querer falar da história de uma substância ilícita e condenada moralmente — Cocaína — com toda a bagagem histórica, política e econômica que ela carrega. De fato, não é uma combinação fácil, porque a dimensão da representação do primeiro parece contradizer-se com a dimensão subterrânea do segundo. Sem falar das quantidades de livros que foram escritos sobre cada um dos temas independentemente (sobretudo sobre a coca e cocaína), que parecem impossíveis de serem abrangidos. Mas dada a ocasião, escrevendo para a Tatuí #13, pensando em como falar da economia midiática expandida do encontro arte/cine, hoje gostaria de desenvolver apenas umas ideias para criar uma consciência crítica deste espaço de interseção, no qual a cocaína se converte na cocaína de Hélio, sua PRIMA, como ele costumava chamá-la com carinho, e assim compreender as Cosmococas não somente como um dos encontros mais memoráveis entre a linguagem da arte e do cinema brasileiro, mas como um espaço de interseção múltipla, em que diferentes circuitos discursivos, circulações econômicas e fluxos energéticos convergem. Sobretudo um espaço cuja urgência política espera ser explorada fora dos padrões acadêmicos e suas respectivas disciplinas herméticas. Mas de que tratamos quando falamos de Cosmococa como alinhamentos entrecruzados ou circuitos convergentes?
— Max Jorge Hinderer Cruz, Berlim, 29 de março de 2012
… um outro Heliocóptero que veio seguramente de um outro “plá” anunciando um outro mundo, confirmando o precário como novo conceito, a magia do ato na sua imanência e também a negação do objeto que perdeu toda sua carga poética ainda projetada, para se transformar num poço onde a multidão se debruça para se encontrar na sua essência.
— Carta de Lygia Clark a Hélio Oiticica, Paris, 26 de outubro de 1968
Se é possível dizer simplesmente, como Hélio Oiticica escrevia em uma carta à sua amiga íntima Lygia Clark — “ CRÍTICO OU É DA POSIÇÃO DE ARTISTA OU NÃO É” –, confesso que minhas obras favoritas de Hélio Oiticica são as chamadas bloco-experiências, ou bloco-experimentos,Cosmococa-programa in progress(1973-74): as primeiras cinco colaborações com Neville D’Almeida (CC1-CC5), que aqui dou por conhecidas, uma outra menos conhecida com Thomas Valentin (CC6), e outras três inacabadas com participações programadas de Guy Brett, Silviano Santiago e Carlos Vergara (CC7-CC9). Inclusive, penso em algumas séries deslides particulares e fitas de áudio batizadas Héliotapes por Haroldo de Campos, material Super 8 e outras proposições soltas, que se encontram no arquivo do Projeto Hélio Oiticica e que giram em torno de Cosmococa como se fossem seus satélites, interferindo com as órbitas das demais referências-satélite que giram em torno de Oiticica, tais como: Mario Montez, John Cage, Soussândrade, Mick Jagger e seu “Sweet Cousin Cocaine”, Freud, Fanon, Malevitch, Nietzshe, Rimbaud, McLuhan, para citar alguns. E se é possível dizer simplesmente, também confesso que Cosmococa foi minha favorita, desde que vi pela primeira vez uma das instalações, CC5-Hendrix War, instalada no Museu de Arte Moderna de Viena (MUMOK) em 2003, mostrando o rosto de Hendrix com pintura de guerra traçada por linhas de cocaína. Eu, um jovem estudante de artes plásticas nos primeiros anos, criado na Bolívia, pressentia que o que D’Almeida e Oiticica em um nível semiótico estavam fazendo com a coca, planta sagrada dos povos andinos, era comparável ao que Caetano tinha feito com o violão de madeira uns anos antes: eletrificá-lo. E tampouco era nada diferente da eletromacumba que estava celebrando Hendrix enquanto cantava seu hino aos Black Panthers e literalmente colocava fogo em seu violão: “cause I’m a voodoo child / Lord knows I’m a voodoo child baby / Yeah!” Não sabia muito de Tropicália, mas o suficiente para entender que o que estava vendo era nada menos que um tropicalismo farmacológico ao beat da diáspora.
É por este forte impacto que teve minha primeira experiência com a Cosmococa, que pesquisando sobre a importância da cocaína para a obra de Hélio Oiticica, costumava deter-me em vão com o deliberado desprezo que enfrentava ao ler textos de supostos expoentes da história da arte política latinoamericana. Não podia entender: por acaso não viam que a história da coca, e logo da cocaína, em que D’Almeida e Oiticica se inscreviam, era profundamente política e intrinsecamente ligada à história da economia e lógica colonial, até os dias de hoje? Que a coca é inseparável da própria resistência ao colonialismo pré-republicano, inseparável também do cume de organização anarcossindicalista no continente americano do século XX, e inseparável da subsequente criminalização da luta dos movimentos sociais hoje por parte das Nações Unidas? Consequentemente, eu começava a desrespeitar o trabalho de pesquisadores como Luis Camnitzer ou Mari Carmen Ramírez por sua miopia moral, por mais que sejam considerados avanços importantes para a disciplina da história da arte latinoamericana.
Foi aí que me dei conta: justamente nesses textos se refletia uma maneira fantasmagórica, como de um velho conflito entre os ativistas políticos no Brasil no fim dos anos 60 ou começo dos anos 70, e o que foi a cultura marginal, Marginália, a contracultura subterrânea nos centros urbanos do Brasil e nas metrópoles que acolheram seus agentes exilados, Londres, Paris, Nova Iorque, etc. A cultura política da esquerda organizada, depois de 68, criticava a subcultura marginal de maneira pejorativa como desbunde político, oportunista em sua transgressão moral/sexual e subalterna à indústria cultural yankee. Enquanto isso, os da contracultura criticavam os partidários da esquerda “tradicional”, afirmando que o que lhes faltava era justamente serem desbundados da lógica dicotômica da Guerra Fria, e subsequentemente de sua subalternidade ao princípio da realidade e seus padrões paternalistas-chauvinistas-dogmáticos.
De certa forma, a história da arte parece ter herdado esta oposição, ou melhor dizendo, parece tê-la conservado à sua maneira idiossincrática. No discurso sobre a arte de Hélio Oiticica, isto se expressa na maneira de dividir sua obra emantes de 69/70 e depois de 69/70. Esta é uma referência ao momento no qual Oiticica vai a Londres para apresentar sua legendária exposição na Galeria Whitechapel em 1969, seguida por sua viagem a Nova Iorque em 1970 para sua contribuição à exposição Informationno MoMA. A referência inclui a sua volta a esta mesma cidade no mesmo ano, a fim de assumir uma bolsa Guggenheim e ficar até 78 vivendo em condições precárias em Nova Iorque, porque voltar ao Brasil, para dizer em uma só palavra, lhe parecia “desastroso”. Antes, no imaginário predominante, Oiticica era o artista de vanguarda modernista brasileiro, lutador pela liberdade nacional, e depois —continuamos na narrativa predominante — se converte no “artista trágico” (empregando um conceito estritamente contrário ao usado por Nietzsche e Oiticica), que depois de ver suas “utopias desvanecerem” e “inspirado pelo mundo das drogas e discotecas”, se deixa levar pela moral dúbia dos prazeres “fáceis”, isto é, se torna marginal de verdade. O mais comum é que se fale de um Oiticica antes do exílio (“exílio voluntário”) e depois do exílio, sem poder evitar colocar no último um tom miserável.
Dois comentários pessoais ao respeito: (1) Considerando a complexidade da obra de Oiticica, fazer uma diferença entre a obra made in Brazil e a obra no-made in Brazil parece uma categorização pouco eficiente. Sobretudo se alguns dos Parangolés, Bólides e Penetráveis criados em Nova Iorque sim são considerados de alguma maneira “brasileiros”, mas as instalações multimídia, apologias à estética gay e consumo autodeterminado de substâncias psicoativas são todas consideradas “norte-americanas”. Na minha opinião, quem não sabe relacionar as Cosmococas com a fase neoconcreta de Oiticica não entendeu nem uma, nem outra. Esta estrita divisão, mais que contribuir de alguma forma produtiva, destaca a função subalterna da história da arte para o conceito representativo cultural do Estado-nação, ao mesmo tempo que adota sua moral e baixa ética pequeno-burguesa. Relacionado intimamente a isso, também considero que (2) falar de “exílio voluntário”, visto desde um ponto de vista político, é tão cínico como falar dos ativistas de oposição organizados e que ficaram no Brasil depois do AI-5 (1968) como “terroristas” que ameaçavam “a segurança dos cidadãos”. De fato, é esta argumentação a que diz: “Se não gostam daqui, por que não vão embora?”. E ao mesmo tempo legitima a repressão violenta. Mas certamente muitos dos que tiveram a oportunidade de sair antes de serem presos e puderam ficar fora, o fizeram. E se bem tiveram que lidar com trabalhos ilegais e assumindo uma vida precária, alguns ficaram melhor assim do que jamais tinham passado em ambientes reprimidos, católico-autoritários, nos quais tinham passado suas vidas até então. Quer dizer que quem não sabe relacionar as circunstâncias e decisões de vida (incluindo suas possibilidades) tomadas por Hélio Oiticica durante sua estadia em Londres e Nova Iorque, com as condições políticas e sociais vigentes no Brasil depois de 68, tampouco compreendeu nem umas, nem outras. Oiticica chamava o desdobramento das circunstâncias instáveis em sua vida “consequentizar” e até na escrita adicionava um decidido “yeah!”.
É o grande mérito da historiadora de arte Paula P. Braga, o de ter recuperado para a sua extensa e impressionante pesquisa monográfica quase indecifráveis manuscritos de Hélio Oiticica sobre seu relacionamento pessoal com a cocaína, além do seu uso nas Cosmococas e de ter agregado a isto uma reveladora excursão em uma espécie de segundo plano: o gesto metalinguístico. Isto se apresenta para nós como uma pequena análise do discurso moral sobre a cocaína na obra de Oiticica e em forma de uma extensa anotação de pé de página, que quis introduzir aqui sucintamente e logo citar algumas frases.
Primeiramente, Braga cita um texto de Hélio Oiticica, com o título “SCORPIONAS”, de 7 de novembro de 1974, que se encontra na primeira página de um de seus famosos Notebooks. Neste, Oiticica compara suas práticas sexuais e “dealing” com práticas que adaptam o ato de criação artística, da mesma forma que o jogo de xadrez fazia para Marcel Duchamp. Partindo da expressão “dealing”, desenvolve sua anotação nº 71. Braga escreve:
“O “dealing” citado nesse fragmento provavelmente é a venda de cocaína. Nos anos 1970, em Nova Iorque, Oiticica estava bastante envolvido com o uso de cocaína, e logo esse estreito relacionamento com as drogas no período em que viveu em Nova Iorque é um dos assuntos mais delicados no estudo da obra de Oiticica. O comentador não pode ser apologético, tampouco trair-se em moralismos. Então usualmente aborda-se esse assunto após a ressalva de que as drogas nos anos 1960 e 1970 tinham um caráter libertador e de experimentalismo muito distinto da associação contemporânea de drogas com violência e tráfico. Essas ressalvas confirmam a extemporaneidade desse assunto, ainda tabu no século 21, mas parece-nos insatisfatório encobrir a discussão com a “aurahippie” das drogas como parte de uma geração sonhadora e rebelde. O ambiente das drogas em Nova Iorque nos anos 1970 talvez fosse diferente do universo contemporâneo do tráfico no Brasil, mas nem por isso menos violento.”
O esforço de Braga de relacionar o tráfico de drogas nos Estados Unidos com o Brasil é único na literatura sobre Oiticica e é absolutamente legítimo. No extenso catálogo de anotações particulares de Oiticica, também se encontra a evidência de que a cocaína que usava, pintava e vendia, provinha originalmente da Bolívia e da Colômbia, mas a recebia muitas vezes pelo Brasil. Também, a violência que Braga menciona é evidentemente consequência lógica de se mover em círculos marginais criminalizados. Não esqueçamos que em 1971 Richard Nixon iniciou sua “guerra contra as drogas”, que foi o pretexto para criminalizar as poderosas uniões obreiras na Bolívia, ao mesmo tempo que criminalizava outros distintos movimentos de liberação latinoamericanos, assim como os Black Panthers nos Estados Unidos, etc. Não é ocioso dizer que a “guerra contra as drogas” foi um instrumento para assegurar a hegemonia branca e capitalista sobre todo o continente americano.
Mas Hélio Oiticica não seria um bom “artista trágico” se não se colocasse em cena fazendo sexo oral no cano de um revólver (como podemos ver no curta-metragem H.O., de 1979, de Ivan Cardoso, que se encontra em várias versões na internet), ou cortando a cocaína sobre um livro de John Cage (CC4) com uma navalha de borboleta (balisong), insígnia de credibilidade e violência das ruas. O mesmo Oiticica atua no curta-metragem em Super 8 de Andreas Valentin,One Night on Gay Street (1975), no qual a trama desemboca em uma cena violenta com uma morte, depois de um impasse na transação de drogas por dinheiro (não sabemos qual droga especificamente, mas sabemos que o comprador é o mesmo Hélio e que não tem dinheiro, mas oferece seus “serviços sexuais” antes de apunhalar o negociador e sair correndo com a presa). De fato, a primeira vez que Oiticica aparece em uma cena de violência explícita é jogando com um revólver em Câncerde Glauber Rocha (1968-72), filmado em 1968 em plena Zona Sul do Rio de Janeiro, na varanda da família Oiticica no Jardim Botânico.
É chamativo que se encontrem apenas discussões críticas sobre a marginalidade como conjunto histórico-político entre narrações historiográficas ou em teorias de arte contemporânea. Sendo que a cocaína e a reflexão sobre distintas formas de violência (violência de Estado e violência no submundo marginalizado, ambas terminam sendo a mesma violência que se expressa de maneiras diferentes) deixaram um inegável rastro na vida e obra de Hélio Oiticica. No entanto, como Braga percebe corretamente, enquanto no discurso atual se enfatizam as virtudes modernistas de Oiticica, mantendo vivo um progressismo nostálgico, o deslocamento de seus vícios não se dá somente em um sentido geográfico (“longe, em Nova Iorque”), mas também em um nível temporal-histórico (“há muito tempo, nos anos 60/70”).
Apesar disso, as famosas Cosmococas sim foram objeto de estudo de vários destacados críticos e autores internacionais. Carlos Basualdo, Beatriz Scigliano Carneiro, Paula P. Braga, Sabeth Buchmann, Waly Salomão, Fred Coelho, Sérgio Bruno Martins, Paulo Herkenhoff, Kátia Maciel, Cauê Alvez y Dan Cameron, entre outros, desenvolveram extensamente a importância das Cosmococas eQuase-Cinemas (1969-75) para o estudo das vanguardas da arte brasileira, para a história da instalação multimídia em geral e para o estudo da interseção entre arte e cinema na obra de Oiticica em particular. Todas estas prolíficas pesquisas sobre as Cosmococas pressupõem de maneira assertiva a cocaína como um meio de produção, como, por exemplo, é o pigmento para um pintor. A mediatizam como cor-tempo, ou como signo/linguagem. E ainda que todos saibam que a cocaína era e segue sendo uma substância ilegal, a história da arte quase não menciona este importante aspecto em seu sentido político e econômico, mas sobretudo enfatiza a representação simbólica da transgressão moral no uso da cocaína como pigmento ou meio. Como tinha mencionado anteriormente, isto parece natural, já que o instrumentário analítico empregado normalmente na história da arte é perfeitamente capaz de analisar a cocaína/pigmento psicoativo como meio de produção, mas não o é de analisar a cocaína/PRIMA como substância que sintetiza ao mesmo tempo as relações de produção, isto é, a totalidade de condições de produção que determinam a vida de Oiticica nesse momento. O nome Cosmo-coca, de fato uma invenção de Neville D’Almeida, já nos diz: a coca não é somente coca cósmica, mas também sugere pensar em um núcleo no qual em torno se abrem determinadas órbitas, constelações, planos e circuitos que se definem por estarem em movimento perpétuo.
De certo modo, as Cosmococas não são tão diferentes dos Bólides, não somente pela semântica astrológica que empregam ou pelo explícito uso de “pigmentos” para serem “experimentados”, senão porque ambas as estruturas podem nos ajudar a pensar em como virar o mundo exterior e suas condições de vida para dentro da obra, sem recair em realismos. Já os Bichos de Lygia Clark, precursores diretos dos Bólides, marcaram uma mudança no paradigma da arte de vanguarda, superando a relação estática entre sujeito-objeto para finalmente virá-la de dentro para fora como um par de meias velhas, criando assim uma estrutura capaz de perceber tensões e fluxos emergentes de maneira “flexível”. No caso das Cosmococas, não faz falta dizer que implica a subsistência sustentada pelos circuitos informais/criminalizados na democracia liberal e nas condições de violência militar e social no Brasil, igualmente. Como na cosmologia, na Cosmococatudo está conectado com tudo, em um movimento perpétuo, em circulações múltiplas e através de suas interseções e dinâmicas.
A grande diferença entre os Bichos/Bólidese a Cosmococa é que os planos e estruturas geométricas que encontramos nos primeiros são substituídos por outra lógica de movimentos, que convergem dando assim uma forma perceptível às últimas. Na Cosmococa, as duas categorias de movimentos imanentes, formações geométricas ou “abstratas” que constituem seu corpo são:
circulações: a cocaína como mercadoria e como substância psicoativa no sentido metabólico, a diáspora da contracultura, a mobilidade e reprodutibilidade do cinema e da fotografia em comparação com as disciplinas tradicionais da arte, discos e livros que são produtos da indústria cultural e ao mesmo tempo meios de produção importantes e acessíveis para Oiticica; e
fluxos: sensações, intensidades, consciência, libido, delírio, disponibilidade, extensões físicas/tecnológicas e afetivas, convergências de micro e macro-planos.
Entender Cosmococacom um princípio embasado em circulações e intensificações, em vez de meramente como um encontro de arte e cinema, é um primeiro passo para entender outras proposições e escritos de Oiticica que “trabalham” com cocaína, ou que fazem uso das novas tecnologias relacionadas à aldeia global (global village) mcluhaniana. Em 1973, Oiticica percebia com uma lucidez particular que as desregulações em todos os setores de produção e as transformações da economia de subsistência do novo precarizado pós-industrial eram tão somente o começo de mudanças muito mais profundas. Mudanças que também iriam redefinir a relação entre os micro e macroplanos que constituem o corpo, o dispositivo do desejo e a autoconcepção da sociedade na época da Guerra Fria. Oiticica falava de uma “dilatação aguda de todos os começos (corpo, sensorialidade, etc.)” que “não pode ser descrita factualmente”. Parafraseando o que Oiticica dizia comparando aBaba Antropofágicade Clark (1973) com “minha relação com a PRIMA”, poderíamos dizer que é nesse contexto que Oiticica e D’Almeida lançam sua Cosmococa “como a criação cósmica de um universo desconhecido que se faz no lance de dados; que não depende de ‘escolhas dualistas”. Se bem que a mesma cocaína a figurar nas Cosmococas, como a transa da boemia libertária nova-iorquina, é também o estimulante dos corredores de Wall Street. Oiticica encontra uma linha de fuga incorporando-a ao mesmo tempo como o espírito que marca os pontos riscados da contracultura brasileira na diáspora.
Esta particular convergência faz das Cosmococasum testemunho verdadeiramente “brasileiro” em um momento de profundas transformações na economia global e na constituição social. Como diz Beatriz Scigliano Carneiro: as Cosmococas de certo modo antecipam “o deslocamento das técnicas de poder da sociedade disciplinar para as estratégias da sociedade de controle.” Visto ante esse fundo, ainda nos faltam muitas interseções e planos convergentes por investigar.
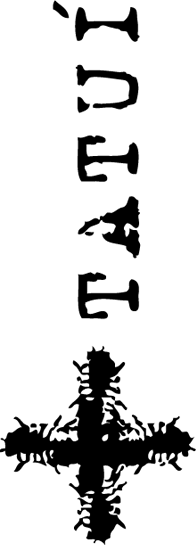

Comentários