o ‘passado’ como espaço estético vivenciável para além dos tempos
Se o começo do século XX, em seu estágio específico de modernização, infiltrou nos artistas um desejo pelo futuro, uma sedução pela máquina e um pensamento utópico, o princípio do século XXI se apresenta de forma diversa, despertando uma onda de interesse que se debruça sobre o ‘passado’. Uma recente cultura da ‘nostalgia’, identificada por vários autores e manifestada em parte da arte e das plataformas midiáticas atuais, tem encorpado um modo existencial formado a partir de referências claramente trans-geracionais, por meio das quais as gerações jovens vivenciam sobretudo as construções políticas e estéticas de outras, anteriores.
Diferentemente das releituras que foram (e são ainda) reincidentes na produção cultural – e que operam majoritariamente por meio da representação – refiro-me aqui a outros tipos de aproximação ao ‘passado’, pouco afeitos à representação e que, consequentemente, evitam tecer situações de inequívoco apelo interpretativo, por sua vez amparando-se preponderantemente numa operação de cunho estético. Em enfoque e metodologia, este tipo de produção se distingue, por exemplo, da febre das ‘novelas de época’ recentemente vivenciada na televisão brasileira e que, apesar de reificar também o interesse da indústria cultural pelo ‘passado’, desta se diferencia radicalmente por não tratá-lo como tema, mas como ‘lógica’ de articulação de forma e sentido. Ou seja: evidencia-se uma transformação no olhar que a produção cultural lança sobre aquilo que é cronologicamente anterior – o ‘passado’ emancipa-se da condição de assunto e do campo da história para estender-se a um amplo campo semântico e cognitivo. Transcende a condição temporal, apresentando-se como modo de pensamento e ação que se realiza no espaço.
Se o processo de espacialização do tempo é apontado como uma das características da pós-modernidade, decerto o lugar que o ‘passado’ atualmente ocupa no ‘presente’ é um de seus sintomas, como também o são as possibilidades existenciais instauradas pela alta tecnologia. Mesmo a construção da anterior frase deste texto, apoiada numa concepção de espacialização temporal, evidencia essa mudança – ‘atual lugar do passado no presente’.
Entretanto, o que a produção cultural toma desse ‘passado’ são menos suas “razões” e “causas” próprias (aspectos notadamente do interesse de disciplinas como a história, antropologia ou sociologia) do que suas construções estéticas. Parece-me que tal ‘preferência’ advém de verdadeira espacialização do tempo que, ao desintegrar a qualidade narrativa e linear das temporalidades, imprime menor ‘sentido’ numa abordagem historicista dessas. Assim, enfatizada a crise na historicidade como tradicionalmente compreendida, potencializa-se o poder de uma aproximação ao ‘passado’ pelo viés estético.
Também por sua natureza, ‘as estéticas’ – simultaneamente solução e problema ‘de época’, uma vez que produtos e produtoras da cultura – têm conseguido atravessar gerações com mais facilidade, ainda que através de contundentes processos de ressignificação. Contínua construção de modos de percepção e sentido, a estética tantas vezes tem se desenvolvido a ponto de se desprender de condicionantes temporais para constituir um território de relativa autonomia e que, portanto, vincula-se mais ao espaço que ao tempo, tornando-se efetiva interface entre diferentes períodos históricos e revelando-se peculiarmente vivenciável e ativa por entre gerações.
O crescente uso da paródia e do pastiche, amplamente perceptível também na indústria cultural, demonstra a visada eminentemente ‘estilística’ que os artistas de hoje lançam sobre a produção estética desenvolvida em décadas anteriores. Após a falência da modernista ideologia do estilo e, na seqüência, a partir da descrença na concepção da ‘autonomia da arte’, a produção cultural pós-1960, baseada nas estratégias da citação e do comentário, tem cada vez mais se nutrido dos aspectos estéticos (de discussões teóricas a soluções plásticas) de outrora para, por meio de seu olhar a um só tempo crítico e de apologia, construir uma “identidade” da produção cultural pós-moderna por diferenciação. Essa posição de afirmação do eu por meio da problematização/“negação” do outro – no campo da cultura, quase sempre uma “negação” apaixonada –, sendo esse outro não necessariamente cronologicamente anterior, mas qualquer identidade diversa do eu (como, por exemplo, no antigo duopólio vanguarda artística x indústria cultural), é, ademais, identificada por inúmeros teóricos como uma das principais características da cultura pós-moderna. E se, em sua maioria, estes tomam a arte norte-americana como parâmetro para pensar acerca da condição de clara autofagia cultural em que estamos afundados (da qual o pastiche é sintoma por vezes pessimista), aqui sugiro um breve pouso reflexivo sobre as artes visuais brasileiras na tentativa de investigar como nossos artistas têm se posicionado diante desse, digamos, frisson estético da contemporaneidade: o tesão pelo ‘passado’.
Por aqui me parece haver, em diversos âmbitos e de várias formas, razoável intimidade – e afeto – com o outro. Sem precisar me aventurar numa abstrata consideração da formação afetiva do brasileiro, posso, ainda assim, restringir-me ao campo da cultura para sustentar tal paixão: já passamos ao menos por dois grandes momentos de pública devo(ra)ção do alheio – Movimento Antropofágico e Tropicalismo. Mesmo antes de pairar sobre nossos céus o faminto urubu pós-moderno, estávamos de barriga cheia. E nosso estômago já experimentava também uma temporalidade espacializada que se instaurava por meio do debate acerca da cultura popular que – fortemente presente desde o começo do século XX e negando, desde então, uma concepção evolucionista da produção cultural – demonstrava a coexistência de diferentes modos existenciais conjugados a paradigmas estéticos igualmente distintos. Dessa forma, de Flávio de Carvalho, passando por Hélio Oiticica, pelo Armorial, pelo Movimento Mangue e chegando aos artistas da geração 2000, dentre tantos outros, apuramos uma intimidade no trato com o alheio que, hoje, quando ativada na discussão do ‘passado’ em suas múltiplas abordagens, suscita uma série de especificidades que, acredito, diferem do aclamado pastiche e afins. A articulação possível entre as obras de Rosângela Rennó (Belo Horizonte, MG, 1962), Dora Longo Bahia (São Paulo, SP, 1971), Jonathas de Andrade (Maceió, AL, 1982) e Cristiano Lenhardt (Itaara, RS, 1975) está, então, a partir daqui tecida na tentativa, breve e ainda nebulosa, de fazer entrever algumas dessas especificidades – advindas, ademais, da particular exploração da fotografia (e do vídeo).
Mesmo antes de decidir como fotografar, manipular uma câmera fotográfica nos coloca diante de um problema de tempo, espaço e representação. Manipular fotografias, idem. Assim, ao fotografar, tomar consciência e, num segundo momento, explorar as idiossincrasias da linguagem fotográfica (e, de modo geral, da imagem) – um dos esforços da produção artística das décadas de 80 e 90 –, chega, aos mais jovens artistas brasileiros (em especial, aqueles surgidos nos anos 2000), quase como uma premissa, uma ‘responsabilidade’ social e artística. Através da obra de Rosângela Rennó, por exemplo, aprendemos a observar criticamente a memória, o arquivo, o ‘passado’, a desconstrução da imagem, a metalinguagem, a “verdade”, o esquecimento, o estereótipo, a relação entre o público e o privado, a subjetividade etc.; genericamente, desenvolvemos um olhar mais aguçado para o papel protagonista da fotografia (mais ampliadamente, da estética) no processo de construção de identidades no âmbito do psíquico e, sobretudo, do social. Dotados de conhecimento crítico acerca desse poder, dispondo de amplo repertório (como aquele que vem sendo instaurado por Rennó) e vivenciando um período de intensa proliferação do uso da imagem através da tecnologia digital, nossa – geracional? – posição diante da fotografia plasma-se com inúmeras peculiaridades e, obviamente, faz surgir um imenso conjunto de trabalhos que problematizam tal situação.
Se na obra de Rosângela Rennó prevalece uma preocupação com a colocação social da fotografia – sendo as manipulações por ela efetuadas levadas a cabo por meio do deslocamento e re-contextualização da imagem (ou do texto) – os jovens artistas que tenho em mente quando me refiro a uma geração que já parte da premissa do poder da fotografia se aventuram também numa manipulação ontológica da mesma. Ainda que esta distinção entre o social e o ontológico tenha aqui características didáticas – visto que são instâncias retroativas e, portanto, pouco diferenciáveis – é possível perceber como tais artistas brincam com a “verdade” não exatamente a partir do escancaramento de suas fragilidades (Rennó), mas a partir de sua construção, na intenção de criar identidades e existências através da estética. Ainda que tal procedimento não seja específico de nosso momento histórico, hoje, em plena era digital, ele tem encontrado ecos expandidos. As artes visuais brasileiras, por exemplo, revelam trabalhos que manipulam o “real” (mormente por meio da fotografia e do vídeo) para dar conta de possibilidades existenciais evidenciadas através de construções estéticas.
Jonathas de Andrade, por exemplo, desenvolve Amor e Felicidade no Casamento (trabalho de muitos desdobramentos, de instalações a fotonovelas) provocado por homônimo livro de ‘moral e bons costumes’ de Fritz Kahn ao criar imagens que, pensadas na estética fotográfica dos anos 60 (data do livro), remetem, através de sua construção (e aliadas a excertos do texto de Kahn), à cultura do período, numa espécie de ‘sociologia implícita’. Suas imagens, realizadas em adequação às condições técnicas dos meios fotográficos de então, aludem também à estética do período em aspectos cenográficos e de expografia (em desdobramento recente, Jonathas submeteu fotografias a processos de envelhecimento e contaminação por fungos), numa operação de verossimilhança que explora o ‘passado’ pela estratégia da simulação. Entretanto, ainda que ali estejam postas situações que dificilmente teriam sido produzidas décadas antes, o artista, senão pela comercialização de suas fotonovelas em livrarias/bancas sem menção a datas, mantém relativamente estável uma distinção temporal em sua obra. Se Jonathas faz uso do pensamento estético surgido no ‘passado’ para vivenciá-lo, o faz, contudo, como leitura deste, numa ainda tímida espacialização temporal que, por exemplo, é diferentemente explorada por Dora Longo Bahia.
Numa abordagem notadamente metalingüística, Marcelo do Campo 1969-1975, dissertação apresentada pela artista em 2003 à Escola de Comunicações e Artes – USP, é a construção de uma identidade, um tempo, um espaço e uma estética; a criação de uma ‘realidade’ que, numa lógica ficcional, seria, por sua vez, uma ‘ficção do passado’ pela primeira vez ao pesquisar informações sobre o projeto de Vilanova Artigas para o novo prédio da FAU no campus da USP. Junto às plantas de Artigas, encontrei cópias heliográficas de desenhos contendo os seguintes dizeres: Planta modificada por Marcelo do Campo. (…) Instigada por essas aberrações arquitetônicas, procurei informações na biblioteca da FAU sobre o autor dos desenhos. Defrontei-me, então, com os registros de uma interessante produção artística desenvolvida por jovens, nas rampas da Faculdade, durante os anos negros da ditadura. (…) Suas pesquisas artísticas problematizavam os limites da obra de arte, e a precária documentação arquivada na biblioteca da FAU é seu único vestígio. (…) Esses registros – textos e algumas imagens de ações e intervenções – são o único indício das obras de Marcelo, todas efêmeras. Entrevistando seus antigos colegas, consegui informações e fotografias de arquivos pessoais que viabilizaram a reconstrução de uma breve biografia de Marcelo do Campo. Essa biografia é o centro desta pesquisa que visa, através do trabalho de um entre muitos jovens artistas, chamar atenção para um período ainda nebuloso de nossa história.” BAHIA, Dora Longo. Marcelo do Campo, 1969-1975. São Paulo: Instituto Itaú Cultural, 2006.]. Mais do que explorar as possibilidades da verossimilhança (por meio da “reprodução” de um ‘passado’) e, assim, revelar o potencial simulador da estética, seu trabalho faz ver como esta instaura uma possibilidade existencial cuja veracidade, na perspectiva da espacialização do tempo, está garantida não como fato (historicidade), mas como sentido (campo da cognição, percepção), visto que Marcelo do Campo busca se inserir no campo da arte como “verdade”. A questão levantada pela obra de Dora é, portanto, menos como hoje podemos ‘dominar’ o ‘passado’ (reinventando-o a partir de sua análise) e mais como este ‘passado’ nos oferece modos de percepção e sentido que geram formas de existência no ‘presente’. Como dito no começo deste texto, trata-se de uma concepção de ‘passado’ que transcende a condição temporal, apresentando-se como modo de pensamento e ação que se realiza no espaço.
Dora Longo Bahia inscreve Marcelo do Campo num espaço-tempo que alude menos à idéia de sociedade da amnésia – e à qual trabalhos de Rosângela Rennó ou Jonathas de Andrade propositadamente se filiam em seus procedimentos – para, por sua vez, problematizar o ‘passado’ a partir de porta de entrada vizinha. Trata-se – em alguma medida, e ainda timidamente – de uma relação menos indicial com o tempo. Ao explorar construções estéticas cronologicamente anteriores não para indicar, mas sobrepor; criar, e não reproduzir; enevoar, e não escancarar; a artista funde, noutras dinâmicas que não a negação, o eu ao outro. Ao não recorrer à ironia, à paródia ou ao pastiche, a porteira que, inclusive moralmente, tenta separar temporalidades entreabre-se, e, literalmente, já não se pode distinguir, por exemplo, as obras de Marcelo da obra de Dora. Inclusive o nome Marcelo do Campo alude a Marcel Duchamp, que criara também sua Rrose Sélavy numa indistinção identitária canibal. Tempo espacializado, estética como interface.
Mais adiante, esse tempo espacializado surge nos vídeos de Cristiano Lenhardt de forma bastante peculiar, e que se distingue de grande parte da produção cultural que se volta ao ‘passado’ a partir da tomada de dois posicionamentos: a não-vinculação às concepções tradicionais de memória (mais evidente exploração de uma idéia não-indicial de tempo e, conseqüentemente, de estética) e a quase não-utilização de estratégias desconstrutivas deste (sejam elas de tendência historicista ou lingüística, como a citação, a ironia ou o pastiche). É propiciado que se vá além da observação do ‘passado’ para investir em sua vivência. O observador passa a ser incluído na observação (adoção de um modo não racionalista-cientificista-modernista de compreensão do mundo), e, portanto, surge potencializada a cumplicidade que se instaura entre o eu e o outro: “(…) mexi nos Bichos de Lygia Clark, um quebrou na minha mão, fiquei com medo… (…) depois vi a Baba antropofágica… fiquei pensando: an-tro-po-fa-gia… an-tro-po-fa-gia…”.
Esta cumplicidade evidencia o efeito da espacialização do tempo que me parece embasar a obra de Lenhardt. Em vídeos como Capanema ou Retratante & Retratado, recursos técnicos analógicos ou efeitos ruidosos postos sobre imagens digitais corroboram para a construção de uma temperatura/atmosfera que, mais do que remeter ao ‘passado’ – simulando-o, recontextualizando-o, relendo-o etc –, geram um estado espaço-temporal suspenso da habitual linearidade deste. Em sua obra, ocorre a potente união de dois aspectos que intensificam tal ‘suspensão’: a exploração de imagens aparentemente fantásticas e que, portanto, nos remetem a uma idéia de ficção (futuro, imaginação, utopia) aliada ao uso de paradigmas estéticos surgidos em décadas passadas. Experimentando, cada vez mais sem discursos rigidamente configurados (de ordem metalingüística, ou sociológica, por exemplo), simultaneamente e por meio da estética, “identidades” lugar-comum do ‘passado’ e do ‘futuro’, sua particular inclinação diante deste ‘frisson contemporâneo do passado’ passa a incidir diretamente sobre os modos de recepção de seus trabalhos: o ‘passado’ é explorado não para estabelecer significações (sobretudo narrativas), mas para anulá-las, conduzindo-nos a outro campo semântico e cognitivo que, na falta de melhor definição, tem sido circunscrito por termos como intuição e espiritualidade.
E é neste ponto em que me parece relativamente claro que as construções estéticas herdadas de períodos históricos diversos do nosso têm sido também vivenciadas como forma existencial, possível para além de seus condicionamentos de ‘origem’. As teorias da paródia, ou do pastiche, contudo, dão conta da exploração do ‘passado’ marcadamente como método de afirmação existencial por meio de uma operação de diferenciação do eu em relação ao outro, pouco abordando a potência que a estética, em suas variadas nuances, tem crescentemente apresentado inclusive como alternativa existencial diante de um panorama de descrença nas ideologias – dentre elas, a utopia. Ainda que nosso interesse pelo passado tenha nos parecido, inicialmente, como ‘única alternativa’ cultural (pois seria o que restara após diagnosticado o ceticismo pós-moderno), ao que parece, atualmente, ele tem se transformado em opção que pode se fazer não por uma já bastante explorada estratégia de desconstrução, mas através de um esforço propositivo de sua territorialização, tentativa de revolver a terra do ‘passado’ não para arqueologicamente efetuar-lhe escavações, mas para fertilizá-la na intenção de comer seus frutos e novamente lançar suas sementes. Territorialização esta a que talvez equivalha um “tirar o chão dos pés”.
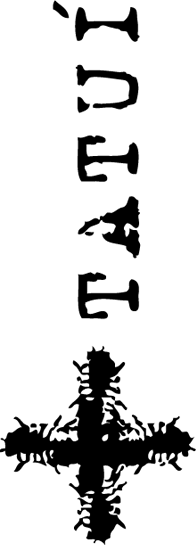

Comentários