O mergulho é uma EXPERIÊNCIA coletiva de
quatro artistas que desenvolvem e
compartilham a pesquisa em imagem como
interface entre corpo perceptivo e mundo.
Realizamos ações que lidam com a virtualidade
espaço_temporal do acontecimento enquanto
lugar no mundo para o encontro.
O projeto ESTADOS TEMPORÁRIOS é nossa
estratégia propositiva e envolve um estado
corporal de busca por espaços e contextos
específicos, possíveis de serem habitados
temporariamente, em que são realizadas
imagens durante a experiência relacional, a
partir de processos de trabalho individual e coletivo.
Os desencadeamentos imagéticos destas
temporalidades são compartilhados e
elaborados em conjunto, gerando documentos
que trazem a realidade do mergulho em
qualquer ação, mesmo quando adensados
no espaço virtual, lugar comum que ocupamos
como “navegadores à deriva”, já que
atualmente lidamos com a distância tempo-
espacial entre nós.
19:49
Na paisagem, vendo e desenhando em camadas sobre, sinto como se respirasse atrás da câmera que acompanha uma captura temporal. Nem sei quanto daquilo realmente aconteceu. As pequenas surpresas do cotidiano. Estados temporários por um mergulho coletivo sustentável, ou abordagem sustentável de um mergulho coletivo?
Um tópos, lugar + gráphein, eliminando o espaço entre o pagus e o horizonte. Deletar o contemplatio da paisagem ENTRE – verbalizar – ENTRAR no entre – acionar a substância da contingência, um dado assíduo no mergulho. CONSTRUIR O OLHO por meio de camadas visíveis – circunstancializar e circular – MARCAR O INSTANTE, o acesso para habitar o tempo, e então, começar outra viagem em busca do sentido de lugar ativado como se uma flecha de marte, na altura da cintura, apontasse em luz vermelha. Seguir.
16:07
O ENCONTRO É O LUGAR e estamos na continuidade da duração infinita, até onde os momentos podem ser segmentados ou costurados. O pensamento não dorme mesmo se o sono fecha os olhos. O desejo é comum, a ação é a base do movimento e o tempo é individual. Mas é preciso SINCRONIZAR PARA AGIR.
O que escolhemos ver não está fora dos olhos. Quando nos afastamos para observar por instantes o que fazemos, arte, ou isto que fazemos, não estamos vendo coisas fora, estamos dentro dos olhos como camadas sobrepostas que deixam vazar o antes no depois. Tudo nos olhos. Na verdade estamos à escuta da SIMPLIFICAÇÃO PROFUNDA.
As medidas subjetivas do encontro não são nada mais do que uma ação possível. Assim escolhemos seguir fazendo um espaço para trabalhar, para viver junto. A distância é sempre relativa se a AÇÃO REAL ESTÁ ANTES NA SUA POSSIBILIDADE e depois na paixão, na imagem, no tato, na mudança do estado potencial para o movimento dos olhos, ou dos ouvidos. Todo o corpo na CONSTRUÇÃO DO INEVITÁVEL, na imagem antes de percebê-la, está na ação e seu movimento está em nosso movimento. Ela em si é o fim. A IMAGEM É O FIM E A FINALIDADE DO MOVIMENTO, por isso prefiro não acreditar na morte. Não quero acreditar, pois a continuidade está dentro. Não acredito nas imagens, acredito na sua mentira.
16:31
Nisto que fazemos, colocamos uma questão que se autorresponde em forma de questão. Do fundo do que fazemos, ao fazer, expelimos: por que fazemos? Por que somos levados a isto, assim? Esse dinamismo-meta, em sua forma de se colocar para nós o porque somos levados a isto e assim, brota de um chão relacional entre o indivíduo e o coletivo (genérico), o mundo e o social. Brota de um CHÃO RELACIONAL no tempo do agora, que é antes e depois ao mesmo tempo: a conTEMPORALIDADE, justo para diferenciar da contemporaneidade.
Porque as coisas são assim para nós, no tempo em que vivemos. A noção de que somos inseridos num contexto que é assim e que nos leva a fazer em contrapartida, ou em conivência ao que fazemos. Conformismo é participar desse tempo convencionado do tic-tac. Submeter o pensamento ao tic-tac não é o que desejamos fazer. Por agora, seguir perguntando por que fazemos.
Corpos-em-sequência-através-de-pequenas-formas-objetos-energias.
16:26
Depois de assistir aos vídeos e às fotos que fizemos, fiquei muito feliz, porque gostei do clima-ambiente. As nuvens e o barco passando em velocidade alterada, nossos movimentos formando linhas no espaço-dentro. Têm coisas ali, como sequências que ficam mais expostas, formando talvez uma ficção que porventura tenha uma massa, porque não precisamos matar o olho que tudo vê, basta gravar outras coisas além dele, tirando o seu ar onipresente.
*
* *
02:23
Por onde reentrar nA ZONA? Escritos da experiência? Desde que cheguei, estou concentrado, reorganizando a experiência. Contudo, sigo acompanhando, lendo e pensando atentamente sobre nosso trabalho a fim de costurar melhor as condições para alterações do espaço e dos objetos de A ZONA. Tudo está ao revés outra vez, mas o tempo não corre para trás.
*
Ando nas ruas e de vez em quando dou saltos no meio dos passos, não porque deseje desviar de nada, mas para o corpo ter noção de tudo o que está acontecendo, com o cuidado de não perder nada daquilo que vivemos. Os altos e baixos, os saltos. Então recebo uma gravação! Amaria que fôssemos sempre registrados enquanto estamos juntos, com o intuito de nos revisitar e de analisar nossas mudanças no percurso.
19:23
A experiência dA ZONA foi um rolo compressor e por isso sofro ao constatar que não me identifico com talvez a parte mais significativa do trabalho, isto é, a prática com o/a partir do vídeo. A relação de trabalho foi dura para todos e experimentei corpo: não me vi na edição, desapareci, porque me esvaneci na brincadeira, no brinquedo sem graça do vídeo. Não resisti à criança. Em especial, nossa relação de trabalho foi e continua sendo irascível, porque, ironicamente, talvez sejamos pólos tão iguais e diferentes. Esteticamente, quando trabalhamos juntos, tenho certeza de que é condição de construção que um de nós não atue. Novamente palavras duras, mas estou falando como/para artista cuja integridade é jóia tão preciosa quanto o colar, o elo da intimidade que compartilhamos, colar de fogo, de realidade e verdade, motivos pelos quais se anular seja mais do que um sofrimento, uma corrupção. Sem me ver no trabalho, não me vejo quente, real e sincero. Vejo-me fora dos elos. Vejo apenas, a cada encontro, o quão séria minha face se revela ao expressar a vontade dolorida de brincar.
*
Durante a construção dos ESTADOS TEMPORÁRIOS: A ZONA, voltei no tempo, ou fui além dele. Para frente, para trás, tudo ao mesmo tempo, e ainda estou gerando essa memória da EXPERIÊNCIA COLETIVA, tentando IMAGINAR A IMAGEM COLETIVA DO MERGULHO.
Criamos um habitat e alguma coisa abrupta nos afastou enquanto as palavras surgiam aos poucos. O impacto dA Zona foi imenso e gostaria ainda de pensar os istos e algos desta experiência compartilhada enquanto seres, trabalhadores, artistas, já que o mergulho como escolha de trabalho é um lugar no qual seremos sempre encontro. E tudo parte dessa base: O ENCONTRO NO MUNDO COMO OPÇÃO PARA TRABALHAR A EXPERIÊNCIA EM CONJUNTO. Nossa escolha pela imagem e pelo tempo. Mas o caminho não é o vídeo e sim algo porvir, em construção.
18:29
Algumas palavras sobre o grupo mergulho como “organismo social”.
A possibilidade de existência de qualquer organismo está ligada às possibilidades de haver habitat, ou meio ao desenvolvimento da corporalidade que, no caso social, necessitaria ser favorável às razões humanitárias, ambiente de manifestação democrática às propostas de bem-estar e às suas estratégias de ação. Estendendo este pensamento ao Mergulho, quais seriam as manifestações de bem-estar social expressas pelo trabalho do grupo? Que meios sociais seriam usados para seus debates estéticos e quais seriam seus resultados?
Eis um problema de grupos: encontrar pontos claros de interseção e de consenso na política interna estabelecida – jogos de decisão – que se tornam ainda menos claros pela confusão do relativismo e do citacionismo que presenciamos. Sigo compartilhando dúvidas sobre as possibilidades reais de manifestações orgânicas e humanitárias que não se abriguem em clichês do relativismo de toda ordem. Francamente, não identifico no caso do grupo Mergulho pontos claros de convergência entre nossas estéticas, a partir das quais poderíamos construir bases comuns à construção de um órgão estético de cunho social. Nossos debates sobre este ponto são ainda incipientes: fóruns pela internet que sugerem, a meu ver, encontros para criações entrópicas que são paradoxais ao desejo de uma construção orgânica.
O lado positivo destas dúvidas consiste no constante movimento de agitação das nossas partículas: estamos vivos enquanto tentamos encontrar pontos de consenso para construção de nossas proposições artísticas, implicando assim numa reflexão sobre o uso do meio digital como espaço de comunicação voltado ao planejamento de algum corpo efetivamente coletivo. Entretanto, o distanciamento físico dos integrantes do grupo e a estratégia de uso constante do espaço da internet tendem a obscurecer, a meu ver, o contexto social no qual se sustentam, em parte, as realidades dos desejos de cada um. Desse modo, as conformações do grupo estão determinadas pelas conformações da própria lógica relativista do meio virtual, imprimindo rapidez na resposta de debates complexos. Ora, se as bases estéticas e sociais do mergulho ainda não estão claras, pois que se relativizam a todo instante, até que ponto o habitat digital não “virtualiza”? Não teríamos assim que repensar a nossa comunicação como meio de bem-estar social?
01:53
IMPULSIONAR O HUMANO. Somos um corpo. E realmente me sinto só. E se não fosse o sol morreria. O movimento vertical tomou conta da alma. Sim, precisamos de um novo estado de consciência. As almas precisam ser modeladas. Precisamos impulsionar o humano e preparar nosso planeta à nova era que já está aqui. No agora. Exatamente agora. E se tudo isso for utopia, não me importo mais. Nada mais faz sentido se não for profundamente sentido. Preciso me sentir conectada. À natureza. Às pessoas. E quando não foi assim? Porque mentimos não ser nossa necessidade. Preciso gritar? E-U-PRE-CI-SO ME SEN-TI-R CON-EC-TA-DA!
21:42
Em 11 vídeo_experiências de um corpocoletivo, desentranhamos a imagem_sensação do presente imprevisível em busca dos desdobramentos do real e do temporal. Qual a sensação mais potente? As oposições refletidas no espelho? Exercício de pulsão e escuta para lidarmos com impossibilidades, intervalos e decisões operacionais na edição coletiva. Agressividade e delicadeza. Meio técnico único. Trabalhamos em fragmentos, aprendendo juntos. Montagem das linhas em movimento para um produto instalativo, ou proposta de experiência em relação ao outro? O que tem luz e o que silencia, o espaço de um, a voz do outro. Uma projeção basta para criar a língua do catalisador imaginado junto?
09:46
O ENCONTRO no EXATO em função da construção de algo em comum para reentrar na troca, colocando o corpo no mergulho, como uma adaptação/transformação a ser explorada nesses tempos de virtualidade. No mundano de fato, o trabalho existe para o outro, e A NECESSIDADE DE COMPARTILHAR É CADA VEZ MAIOR. Tanto pela necessidade íntima, como pela necessidade de percebermos o trabalho como potência de algo que queremos e ansiamos ATRAVÉS DA ARTE. A ideia é sempre retornar ao íntimo no sentido de fortalecer o coletivo, que precisa de todas as partes. Os meios para nos aproximar existem atualmente e podemos dar um uso fortalecedor a eles.
*
Nos encontramos e sentamos no banco de madeira nas bordas da redenção, que faz algum tempo chamamos de atelier transcendental do Mergulho. É lá que muitas conversas se deram, como na mesa da cozinha onde enchíamos a mente de ideias e o coração de cafeína. O limite foi sempre tentarmos nos sentir bem, mesmo sem entender nada. Abrir-se ao instante, porque se quiséssemos ter uma consciência clara no momento em que não sabíamos aonde cair, já sairíamos deste instante. Queríamos fazer imagens e viver, procurar lugares que nos interessassem no desenvolvimento de alguma ação, correr no espaço, olhar o horizonte, deitar na grama, suar, sentar, cair: as imagens vindas disso seriam A MEMÓRIA DESSA EXPERIÊNCIA. A instabilidade é algo que mexe muito com a gente. Não sabíamos aonde íamos, tínhamos desejos, mas por onde eles se cruzavam? Criar a nossa dinâmica, misturando subjetividades e querendo DESENVOLVER UM IMAGINÁRIO COLETIVO me perturbava muito. Hoje, após a experiência, temos um imaginário coletivo. Temos A ZONA. Por que então estamos no limite dos nossos desejos? Por que estávamos no limite de nos perder inteiramente? Porque nos perdemos. E desse tempo e mistura de nossas vidas e dos nossos desejos, temos memória de um mesmo tempo vivido.
Imagens, vídeos de experiências da nossa busca pelo contato com o mundo, com nós mesmos, com a realidade presente em cada lugar. Fomos atrás de paisagens. Será isso mesmo? Nossos vídeos muitas vezes são abstratos. Vamos a lugares, queremos a força que vemos ali. Colocamos, muitas vezes, justamente o que falta para ter a dimensão do tempo e do trabalho em conjunto.
INSISTIR NO PROCESSO SEMPRE. Apostando na descoberta de onde nos formamos mais como ser, do que como produtores de algo. O produto é a própria experiência vivenciada pelos sentidos, corpos e imaginários, enquanto saboreamos desta mesma magnitude e fascínio pela imagem.
01:09
Primeiro as paredes caíram. Hoje as horas caíram. Não há mais distinção entre noite e dia. Os pólos se encontraram. O corpo continua seco. Beber o possível. Sugar o seio da impossibilidade. Hoje foi mais um dia que vibramos juntos. Que a chama invada todas as partes do corpo. Que esse sangue queime as veias até tornar-se faíscas flamejantes no espaço. Lançar-se no espaço. HUMANO-COMETA. Vamos? Ser mutantes lutando por espaço? Porque afinal de contas acho que tudo é uma luta por como queremos viver o tempo. Esse espaço é o presente. Não deixar os sonhos secarem. Arte modifica toda a percepção da vida e pela importância que tem na minha vida, não me acostumo com a demanda expositiva que dizem existir. Eu me coloco cada vez mais longe. Olhos para o infinito. QUERO VIVER INTENSAMENTE A NECESSIDADE QUE DEIXAMOS FLORESCER. Como agora, depois de termos mergulhado juntos nesse verão, tantas lembranças. A cada vez que vejo nossos vídeos, tenho vontade de chorar de agradecimento. Profundo e simples de sentir. Entregar-se com toda a fé, coragem, ao processo que escolhemos viver. Cara nua e pele à mostra. Fazer como num sonho. O caminho que vejo é só esse. Criar, fazer, viver e mostrar. Sem esperar mais nada além do que brota e se articula a partir de nós. Fazer brotar. Fazer chover. Soltar rojão. Até que brote o sangue. Até que surja a alma.
16:26
Os estados temporários não são uma coisa só. Esse pequeno suspiro de agora é devido à nossa vontade (paradoxal) de eliminar as distâncias mantendo as diferenças. Essa abertura está claro-cristalina nos estados temporários, que em si são ESTADOS QUE não SÃO DELIMITADOS em formas, mas sim EM FORÇAS.
É essa permeabilidade que os novos estados temporários propõem entre nós. É um LUGAR AO QUAL TODOS PERTENCEMOS. Talvez seja isso que busco ver no fundo e opto pela dissolução com presença, revendo na memória todas nossas conversas críticas sobre o processo. Onde o todo (o junto) é maior que a soma das partes adjuntas. Me sinto muito contente como luz no desenho: sempre fomos muito mais desenho que outrem e fazer atenção às coisas que, de tão assimiladas, passam inconscientes no ato, mas estão na imagem. Essas experiências existem e nós com elas. NÃO VEJO OUTRA FORMA DE EXISTIR AQUÉM DO TRABALHO-MERGULHO que se amplia cada vez mais na maior elegância-luz.
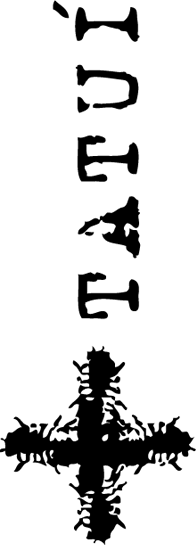
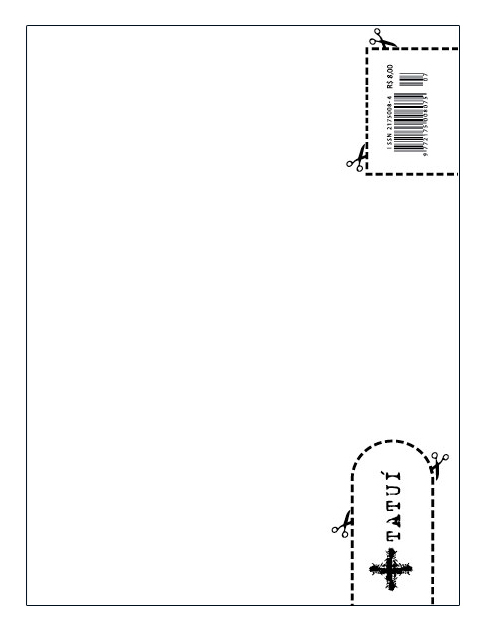


Comentários