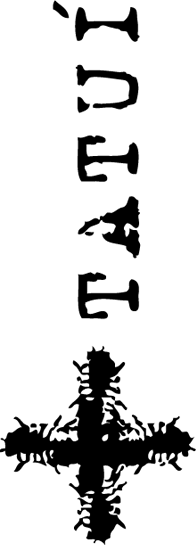
www.revistatatui.com.br
Nova Subjetividade: o esboço de uma possibilidade
Antes de mais nada gostaria de distinguir qual tipo de discussão estou participando. Embora me anime pensar sobre o caráter ontológico da arte, acredito que em termos práticos aqui não cabe discutir a distinção: arte e não-arte; sobretudo diante da possibilidade da arte enquanto antiarte como coisa assentada. Minhas reclamações acerca da arte contemporânea têm a ver com um posicionamento ideológico. Isso quer dizer que meus questionamentos do que a arte deve ou não ser não põem em dúvida a natureza daquelas obras que não se aproximam dos parâmetros que, mais adiante, proponho. Uma coisa é o que a arte pode ser, outra, é o que esta deveria ser (segundo esse ou aquele ponto de vista). Nesse sentido, é que começo minha discussão.
Há algum tempo tenho usado alguns aspectos da modernidade (russa e européia), tanto quanto a Nova Objetividade brasileira, como baliza para alguns dos meus pensamentos sobre arte, porque diante da relação que passei a ter com esta, não me é possível pretendê-la distante dos problemas político-sociais. Ainda que me comovam algumas poéticas intimistas – viés da maioria dos trabalhos contemporâneos –, eu insisto em requerer uma arte que se envolva também com as questões de nossa (des)ventura enquanto sociedade civil.
Posso estar enganada, mas a partir dos anos 1980 dá-me a impressão do início de uma espécie de ressaca que fez a arte se tornar cada vez mais amoral. Embora entenda os rancores trazidos, de um lado, por um cristianismo mal sucedido, do outro, por um socialismo equivocado, não me permito perceber a moral como desvalor. Parece que o ideal compartilhado quando se transforma em “ismo” se estagna em si e a arte (assim como a vida), que é para ser movimento, esbarra nos limites daquilo que em princípio era ideário, para existir apenas como formato. Por isso mesmo é que Caetano Veloso se opõe ao Tropicalismo, porque, para ele, o genuíno era a Tropicália.
Seria muito tolo de minha parte vociferar em favor da moral enquanto forma/conteúdo (da obra) e me deixar domar por um moralismo. A moral que reclamo é a de um posicionamento (ideológico) claro dos artistas, bem como dos demais agentes culturais (curador, crítico, jornalista, arte-educador…); de um programa estético que seja também político. Quando falo de política, não me refiro, absolutamente, a um discurso partidário, mas a uma voz que se manifesta não só como possibilidade, mas também existência na vida pública. Ora, por que isso? Porque aquilo que é público pode ser compartilhado, analisado, discutido.
Tento entender de onde veio o discurso do “medo” da arte contemporânea. E cada vez mais tendo a acreditar que se trata muito mais de uma estratégia de reserva de mercado para certos modelos de críticos, curadores, arte-educadores e instituições diversas, que nessa lógica tornam-se imprescindíveis na mediação entre a obra e o público. Embalada por essa falácia, não raramente, eu deixava as exposições com o constrangimento de ter entendido nada! E como seria isso possível? Minha inteligência (ainda que com muito esforço) se dava ao conhecimento filosófico, mas pelo jeito, não era suficiente para conhecer arte. Parece-me que o mito do gênio ficou pelas avessas: já não é mais requerido genialidade para conceber a obra de arte, contudo, o é para entendê-la.
Levou muito tempo para eu perceber que a dificuldade de acesso àquelas obras de arte não estava no meu despreparo intelecto-sensível, mas na inabilidade daquelas em comunicar. Ali, obra e discurso eram tão subjetivos que simplesmente cansava (tampouco interessava) empreender árduo caminho que terminava num umbiguismo elementar. Ora, quão confortável é voltar-se ao umbigo, sem ser esse um posicionamento político, porque nesse círculo (de uma arte que flui de si para si) ficam de fora as discussões que poderiam pôr em xeque sua própria existência, bem como das atuais formas de atuação dos agentes culturais.
Para mim, o grande equívoco dessas duas últimas décadas da arte contemporânea foi ter transformado a subjetividade em “ismo”. Vale dizer que a subjetividade foi uma das maiores conquistas da cultura contemporânea, que significa, entre tantas outras dimensões, a arte e o artista livres de uma submissão aos discursos partidários: sejam esses de cunho político-formal, religioso, ou de classe social… Mas parece que os conceitos foram confundidos ou os artistas resolveram deliberadamente se abster das questões político-sociais e fazer de suas subjetividades um subjetivismo.
Não à toa, o público para arte contemporânea se tornou cada vez mais escasso. Ora, o problema não recai mais numa questão de arte de “elite” VER ESPAÇO, pois mesmo as “cabeças mais favorecidas” já não se interessam em ir nas exposições. O problema está nessa subjetividade exacerbada, do artista na obra, incapaz de criar uma empatia que promova um diálogo que por sua vez gere um debate, uma comoção coletiva. E sem essa dimensão coletiva, me pergunto, arte: para quê? Mero objeto de mercado?
A notícia de instituições preocupadas em “formação” de público me é constrangedora. Além de desconfiar da boa vontade dessas em “criar” um público para arte contemporânea por gratuidade, me vem imediatamente a realidade de que um empreendimento desses é inviável. Em menor ou maior escala, nem o promover sessões de entretenimento das pessoas com elementos daquela determinada obra vai gerar um público, tampouco aulas (cansativas) que oferecem não mais do que justificativas estéticas do atual fazer artístico através da história da arte. A criação de um público, ao meu ver, só é possível quando sua relação com a obra se dá espontaneamente, movida por uma empatia acolhedora.
Nesse sentido, quero deixar claro que não estou requerendo uma arte que não contemple as questões próprias do indivíduo e passe a se referir somente às situações sociais. Me animo apenas em querer uma arte que não se volte tanto para si, mas crie comigo um diálogo que ultrapasse tanto as minhas questões quanto as desta. Penso que, se podemos esperar uma reviravolta estética na contemporaneidade, é porque esta virá amanhecida por uma reviravolta também política e social na arte.
Tenho creditado largas esperanças nas movimentações sociais, porque também políticas, surgidas a partir dos coletivos e das ações propositivas de trocas simbólicas feitas em rede. Coletivos diversos têm sido formados: por artistas, por críticos, por produtores, ou de uma mistura destes, com posicionamentos bastante claros de seus programas estéticos. Alguns coletivos de artistas surgiram pelo interesse meramente econômico que os ajudassem a promover seus projetos pessoais a exemplo do Branco do Olho (PE) e Bola de Fogo (SP); outros, para se tornarem uma unidade proponente de diálogos e experiências estéticas como o fora o coletivo e/ou (PR) e os hoje ainda atuantes Mergulho (RS) e GIA (BA) – esses últimos me interessam mais.
Não só de artistas, mas os coletivos híbridos formados também por designers, pesquisadores sociais, críticos de arte, a exemplo do Laboratório de Inteligência Artística – i! (PE), do qual faço parte, atualmente representam uma variável interessante na possibilidade de uma produção estética porque, embora fundamentados em bases acadêmicas, as ações propositivas se pretendem voltar para uma agitação das diversas formas de perceber e lidar com a vida – assim como eram as que compuseram o que hoje podemos identificar como Nova Objetividade. Me aventuro em acreditar que essa possibilidade de um programa estético proposto não só por artistas, e que consiga articular diversas redes de discussões e trocas simbólicas, há de declarar de fato um fim da arte como a temos conhecido (já o pré-disseram Hans Belting e Arthur Danto).
Se bem sucedidas essas atuais formas da arte desenvolvidas por programas estéticos (e, por suas naturezas, também políticos), a questão de “formação” de público já não será uma questão, mas coisa resolvida. Nesse modus de arte, o público é também autor e matéria compositiva da obra – que em momento oportuno até deixe de se chamar assim e passe a ser experiência estética. Eis os caminhos que nos levarão a uma Nova Subjetividade.