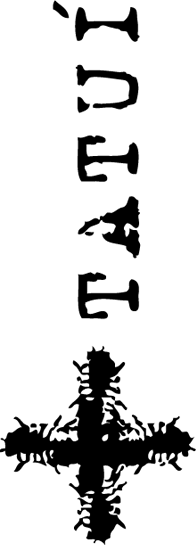
www.revistatatui.com.br
Arte como simpósio
Lazer
A vida precede a arte. E há quem viva muito bem sem ela. Embora os letrados discordem, nada prova que uma boa vida dependa da apreciação artística. Mondrian sugeria justamente o contrário. Para ele, a arte seria o próprio sintoma de uma existência desarmoniosa, ou, na melhor das hipóteses, de um estágio civilizacional transitório. A arte, neste caso, seria tanto um consolo como um estímulo para a sua própria superação.
Toda realização artística deveria estar, portanto, submetida a uma concepção existencial, e não o inverso. Antes de uma estética, valeria pensar – sempre e mais do que nunca – numa ética, que mesmo concebida em termos estéticos não implica na presença da arte.
Apesar de não ser mais tão simples prescrever modos de comportamento à humanidade, o único modelo existencial que talvez ainda apresente um potencial universalista tem, entretanto, na arte a sua mais acabada materialização: a vida dos “ricos e ociosos”.
A história mostra que só eles, sobretudo eles – os ricos e ociosos –, desfrutaram do tempo livre. Só mesmo essa pequena elite pôde viver um pouco mais próxima do que se desejava, porque livre da luta pela subsistência. Fundada no cultivo de si mesmo e no lazer, a ética desses senhores acabava colocando a arte no centro das suas atenções (o que não é, evidentemente, o caso das esdrúxulas elites contemporâneas, que nos dão o péssimo exemplo de viverem apenas para o trabalho desenfreado – mostrando-se, assim, incapacitadas para qualquer elaboração estética ou moral).
As manifestações de um tal ideal elitista são bem conhecidas – basta imaginar as principais ocupações aristocráticas: jogos, banquetes, guerras, orgias, passeios e, como se sabe, arte. A arte, em particular, satisfazia não só vocações estéticas e gnosiológicas, como também a própria necessidade de assegurar esse “paraíso na terra”. Não se tratava apenas de uma experiência subjetiva individual, mas o modo por excelência de celebrar e eternizar, coletivamente, valores indiscutivelmente superiores. Se a vida livre era o conteúdo da arte, a arte era o signo dessa vida livre.
Signos
Escalar montanhas, caçar javalis e admirar afrescos eram indícios de uma existência independente do trabalho forçado. Qualquer ação ou artefato construído e/ou utilizado por quem comandava o seu próprio destino inevitavelmente correspondia, em termos semiológicos, a “índices” desse estilo de vida. Ora, assim como a fumaça é um índice do fogo, a arte é um índice de uma vida liberta. Onde há artistas, há promessas de liberdade e abundância – eis o eterno e imutável “significado” da arte.
A apreensão deste significado primordial, bem como as diversas interpretações que qualquer tipo de signo pode engendrar, estão, todavia, submetidas ao contexto no qual a arte se insere. Deleuze chega a afirmar que a significação dos próprios enunciados ocorre por redundância, ou seja, “em paralelo” a uma situação específica que já estabelece os seus significados através dos não ditos: o tipo de relação entre os interlocutores, os comportamentos em cena, os discursos indiretos, as lembranças.
Uma tela de Mondrian, enquanto signo, pode até expressar a “harmonia universal” se estiver exposta numa galeria; mas dificilmente expressará o mesmo conteúdo se estiver pendurada no lobby de um hotel. Junto de vasos, anúncios e cardápios, qualquer pintura tende a se tornar mera decoração, ou distração visual, simplesmente porque o lobby de hotel, assim como a sala de espera do dentista e o escritório do advogado, “significa”, sempre, negócios (ou muitas vezes aflição).
Se o “uso” dos signos num determinado contexto é o que acaba por definir o campo dos conteúdos, o artista, caso se preocupe com a recepção do seu trabalho, deveria deixar de conceber objetos ou ações isolados para dedicar-se à concepção de situações inteiras. Não é por acaso que as condições de inserção da obra de arte venham nas últimas décadas não só recebendo grande atenção por parte de artistas, público e estudiosos, mas constituindo o próprio material de criação estética.
Estratégias
Embora a importância do contexto tenha sido exaustivamente discutida desde Duchamp por teóricos como Brian O´Doherty, George Dickie e Arthur Danto, o artista ainda hoje costuma lidar com esta questão sobretudo de dois modos: o primeiro é permanecer utilizando o espaço tradicional da galeria; o segundo é produzir obras específicas para lugares específicos. De acordo com o primeiro modo, o espaço expositivo deveria ser capaz de garantir a plena autonomia e transparência do significado da obra, na medida em que afastaria interferências semânticas externas. Já o segundo procedimento, ao considerar o contexto como um dado intrínseco da obra, almeja suprimir a própria noção de exterioridade.
A primeira estratégia costuma, contudo, desconsiderar que qualquer espaço de exposição encontra-se ele mesmo saturado de conteúdos outros que inevitavelmente contaminam o trabalho artístico. A galeria “atua”, antes de tudo, sobre a própria ontologia do que nela é exposto: no interior do “cubo branco” a arte é, ou deveria ser, algo separado da realidade cotidiana, cujo único propósito é ser contemplado “desinteressadamente”. Persuadir os desavisados sobre a sua ingênua neutralidade é apenas a mais sorrateira das pretensões desse tipo de espaço.
A galeria pode ser um lugar de negócios, com toda aquela extravagante eloquência de lobby de hotel, ou uma instituição de interesse público representando discreta e elegantemente interesses privados – ela nunca é neutra. Nos museus e centros culturais, os conteúdos institucionais, econômicos e políticos veiculados “paralelamente” às obras expostas são verdadeiramente inumeráveis. Os próprios projetos curatoriais, que tendem a converter as obras selecionadas em readymades a serviço do discurso do curador, são um notório exemplo do papel do contexto na fabricação dos significados da arte.
Usualmente chamada de site specific, a segunda estratégia – seja quando aplicada no ambiente urbano, natural, virtual, ou mesmo na galeria – visa superar as conhecidas limitações e dicotomias que envolvem o artifício do “cubo branco”. Ao considerar as preexistências ambientais, o artista joga com as circunstâncias, produzindo, em vez de artefatos, uma relação entre artefatos e o entorno. Mas como a própria concretização dos significados artísticos está, neste caso, abertamente atrelada aos caprichos de um lugar em transformação, o trabalho “específico” passa curiosamente a ser configurado pela edição e publicação de um evento desde já completamente desterritorializado.
Concluir que a arte é de fato dependente da sua interação com um complexo contexto físico-cultural não é pouco, especialmente para artistas que costumam confiar demasiadamente em hipotéticas propriedades comunicacionais e estéticas da própria obra. Mas aceitar a precariedade semântica da arte não é o mesmo que se conformar com a pura manipulação e casualidade dos seus significados. A velha utopia da criação coletiva de ambiências completas, em detrimento de obras autônomas individuais, talvez continue sendo o caminho mais promissor, não exatamente para o controle de conteúdos a serem assimilados, mas à realização de uma arte como “índice” de uma vida aristocraticamente interessante.
Symposion
Bons momentos vividos podem dispensar a arte, sobretudo as festas. Atitudes contemplativas em meio à dança e bebidas são até inadequadas. Mas a vida boa também exige silêncio, introspecção e inatividade (isso é o que todas as vanguardas sempre ignoraram). Em todo caso, se a vida for variada e completa a ponto de desejarmos repeti-la infinitamente, seremos sempre tentados, mais cedo ou mais tarde, a convencer os nossos semelhantes a compartilhar conosco esse privilégio.
Entre a grande variedade de eventos sociais na antiga Grécia, um tinha especial importância para os mestres da boa vida: os simpósios. Oriunda etimologicamente de sympinein, que significava “beber juntos” (syn + pinein), a palavra grega symposion designava, entretanto, bem mais do que uma simples reunião em torno de uma mesa de bar. Tratava-se de uma festa depois do banquete, na qual os participantes não só bebiam, mas dançavam, tocavam, jogavam e participavam de rituais religiosos e longas conversas. Ao invés de uma experiência “visual”, a “arte” lá era existencial, uma vez que a situação integral, vivenciada diretamente, constituía a razão de ser de toda a participação coletiva.
A ideia do simpósio grego atravessou os séculos adaptando-se às vicissitudes geográficas e culturais. Hoje, como sabemos, a versão moderna é um evento de cunho científico voltado à discussão de temas específicos por especialistas, que eventualmente pode incluir o desenvolvimento e a apresentação de trabalhos práticos. Descartou-se a bebida, a dança, os jogos e todo o legado de Dioniso (pelo menos durante as conferências) e aprimorou-se a organização das longas “conversas”, fortalecendo, assim, os princípios apolíneos.
Certamente o simpósio atual perdeu em embriaguez, estética e abrangência, mas ganhou em aprofundamento e sistematização de experiências altamente especializadas. Se o antigo simpósio grego era a exaltação momentânea da vida total, o simpósio moderno é o coroamento de uma produção de conhecimentos agora científicos. Se na Grécia a ênfase recaía sobre a multiplicidade de ações – reduzindo, assim, as próprias possibilidades de contemplação e de transcendência do tempo vivido –, o simpósio hoje privilegia uma theoría tão pura que tende a se evadir da práxis.
Cada sociedade tem o simpósio e a arte que merece: enquanto a vida culturalmente integrada dos gregos tornava impensável a autonomia da “arte” – subordinada sempre a noções como a de kalocagatia, que misturava o belo com a moral –, os artistas modernos se emanciparam da sujeição utilitarista ao preço da própria integração com a vida cotidiana. Mas essa suposta separação entre vida e arte não deveria suscitar nostalgias de civilizações pré-modernas (como parece ser, paradoxalmente, o caso de todas as vanguardas), muito menos apologias da pós-modernidade.
Realizar hoje um simpósio “grego” num auditório de convenções, ou um simpósio científico numa galeria de arte, consiste em lidar com potencialidades poéticas ainda por serem experimentadas. Implica, primeiramente, em tomar distância da nossa atarefada contemporaneidade para, assim, consumar uma ética que não prescinda de uma estética. Nós, do i! Laboratório de Inteligência Artística, sabemos como fazer.