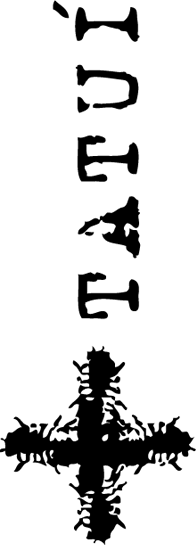
www.revistatatui.com.br
MARIOLOGIA?
Este texto é mais um brainstorming do que um manual de boa convivência humana, por isso sua ordem e cadência não obedecem a uma escola. De outro modo, é um primeiro instante de ideias que são, em muitos dos casos, revisitadas, porque reencontrá-las foi inevitável, estimuladas pela participação no Fórum Social Mundial deste ano em Belém do Pará. É por isso conclusivo apenas até certo ponto.
Sou eu me identificando: recortes de minha visão e condição como ator e autor social. Dessa forma, espera-se que o leitor esteja precavido quanto ao que poderia ser considerado “erro” de gramática, mas esteja inquieto e desconfortável para que ao final reaja, mesmo que seja mudando o canal da TV, ou a pessoa que fala o texto.
Por fim, não subdividirei a cadência deste texto. Isto deverá ser uma provocação dolosa e velada ao envolvimento com a colcha de retalhos de ideias e vivências, que até aqui resultam em indícios – não necessariamente coisificam alternativas efetivas, mas matizam caminhos.
Tudo no IX Fórum Social Mundial (FSM) me impressionou muito. Primeiro, porque foi em Belém e eu não a conhecia. Meus paradigmas de natureza também não eram compatíveis com as dimensões amazônicas de fauna e flora, mesmo que a literatura seja exaustiva e insistente sobre o gigantismo ecológico equatorial. Era de se esperar numa megalópole como Belém algo mais simbólico a esse respeito, porque, nas cidades, de maneira geral, a natureza é sempre amestrada, ou tolhida e maltratada pelo nosso sistema industrial oitocentista e Belém não domou a natureza como São Paulo. Mesmo autóctone é megalópole.
Não conhecia a transição geográfica do Nordeste para o Norte do Brasil – exceto pela literatura, também superada pelos fatos. Fui de ônibus para lá, porque não havia voos disponíveis de Recife até Belém durante o período do FSM. Isso, para falar do quanto a cidade foi invadida durante o evento. De vez em quando é bom que as cidades sejam invadidas. Lembro-me que um dos compromissos do FSM é com a ecologia e, em um planeta com mais de 6.000.000.000 de pessoas, um movimento mais bem-sucedido que esse numa cidade menor poderia ser uma hecatombe. Seria curioso ver esse evento numa cidade com menos de cem mil habitantes como Vaduz.
Não foi diferente com o fórum, nem com a farofa humana de sensações e trocas. Eu me senti pequeno e preocupado porque estava ali e, apesar de toda a abundância e de todo o excesso, sabia que havia um ritmo e uma música que tocavam ao meu redor, dos quais não escutava um piquitinho sequer. Era visual esta ausculta – de gente e seus temperos sensoriais por todo lado e de todas as formas: “rápido”, “devagar” e “mais ou menos”.
Não sabia que pupunha era cozida, nem salgada, antes de comer. Tem gosto semelhante ao de milho cozido, mas é suavemente amarga – isso porque pupunha é um coquinho e cocos são doces, ou eram até ali. Do clima, insuportavelmente quente e úmido, até a lógica do FSM, não soube como lidar com tanta informação relacionada ao encontro e ao ambiente.
Foi preciso parar.
Li o guia do evento que recebi quando confirmei a minha inscrição, depois de minha primeira maniçoba e durante a minha primeira chuva das 17h (que veio às 13h, porque a destruição da natureza está mesmo acabando com o relógio pluviométrico da Amazônia e da Terra); tudo isto ao som de um protesto contra o consumo de carne de qualquer tipo. Maniçoba leva carne vermelha e branca.
Quando terminei essa análise, me senti mais seguro para escolher e para participar, com a certeza de que eu, nem ninguém mais, participaria de tudo o que gostaria, nem que fosse apenas da metade da programação. Sendo mais exato: achei que só seria possível dar conta de um, ou no máximo dois eventos por turno, por dia. E foi assim.
É de se ressaltar que as distâncias podiam chegar a mais de oito quilômetros de uma mesa-redonda à outra, porque o evento aconteceu entre a Universidade Federal e Federal Rural do Pará que, além de distantes, possuem campi enormes.
Esta experiência se traduziu em contatos, trocas de ideias, vontades que vão – que já estavam indo – mudar o mundo e aquelas que se perderão ou amadurecerão com o tempo, deixando de ser erráticas e utópicas.
Uma vez ouvi o grande jornalista Washington Novaes citar o Cacique Raoni (Caiapó, Mentuktire) para dizer que “uma cultura que precisa ser protegida é uma cultura morta”.
Depois desses quatros dias especiais, o fórum terminou e voltei ao Recife com a esperança de botar para funcionar alguns engenhos pensados no Pará. Simplesmente pô-los em prática, sem a pretensão de proteger nada, nem alguma cultura.
Fiz uma pretensa anamnese sobre a história bélica do Ocidente e o arquétipo dicotômico entre atacar e defender, obstáculo para pensar a autonomia de uma cultura independente do dipolo proteger-dominar. Mas escolhi tentar, mais uma vez.
Acredito que os padrões culturais são o grande vilão dessa história. Ou a decorrência-chave a se trabalhar, no sentido de uma atuação mais efetiva quanto a aplicar vontades de assistir a uma condição mais humana do homem.
Pensei, lá no FSM, que tinha pouco a dizer como artista, por causa da sincronicidade da informação que a interface digital protagoniza, fragilizando a ideia de novo e de original. Pensei na fala profética de Andy Warhol sobre os “quinze minutos ou menos”. Esse retorno me levou a rever a minha potência como ator social. Num primeiro momento, que vem até agora, penso que é preciso fazer e executar, porque leis, normas e instrumentos há de sobra.
Acho que o arranjo pelo qual nos conduzimos como coletivo (social) nos põe em xeque, ou nos torna miúdos demais para sermos pretensiosos, mas não o bastante para entendermos que não reagir é digno. Essa postura pode ser, por outro lado, a ignição que identificará ruídos alheios – os lamentos do vizinho, por exemplo – como seus.
Quando recebo uma conta de telefone contendo alguns números que não identifico como ligações minhas e me digo: “não adianta fazer nada, por que despenderei mais energia indo aos órgãos competentes, reclamando e vendo os resultados dessa antiestase?”, estou colaborando com a dilaceração de direitos.
É um ponto a mais ganhado por esta coisa sem cabeça e sem aparente vontade de controle que chamamos corporações e, às vezes, gangues. Elas nada mais são do que nós: metáfora do nosso superego coletivo e sem consciência.
Reagir a isso é construir esta consciência coletiva cidadã mundial. Para isso é preciso paz e não pólvora.
Achei que os dados estavam lançados, que tudo estava feito e que o “demais” seriam apenas variantes. É como se o que faltasse fosse um mergulho profundo em cada objeto, sujeito e brecha entre os dois.
O que é tudo isso quando eu sou artista visual e esses valores praticamente exigem uma espécie de autodesconstrução minha e do meu redor, sobretudo de padrões culturais? O universo plástico-visual pode ser tudo o que se desejar.
Como profissional e cidadão do mundo, o que significava todo aquele choque de impressões? O que eu poderia, ou posso, tirar do papel para a realidade, mesmo que seja minha mente reciclada?
Pode ser simples responder a estas perguntas e a resposta não é nova. É agir, somar, mesmo sendo diferente, portanto enriquecendo a ideia de diversidade.
Não acredito nos velhos moldes de engajamento, embora os respeite com veemência – até para negá-los quando for oportuno. Penso num ritmo íntimo aos não “ismos”, aos pós, trans, meta, hypes, ou sei lá mais o quê. Acredito na “carne pública” de Pierre Lévy e, portanto, na soberania como um produto desta diversidade experimentada.
Se o paradoxo é regra, a coerência precisa ser a de uma política cujo sentido de realidade se dê muito mais no orgânico, do que na fixidez de um ideário de letras frias e determinações “ísmicas” positivas.
Mais do que qualquer coisa, isto parece apontar na direção da esfera pública: nós outros desligando chaves e reduzindo excessos individualmente. Reapropriando-nos de nossos atos para um fluxo de gestos e atitudes, como artistas dos advérbios − de experimentá-los, na forma de modos e condutas −, ou de apontá-los como metáforas de nossas potências e expectativas.
Em suma:
“Em alguns lugares,
Algumas pessoas estão fazendo
Algumas coisas que vão mudar o mundo”.
(Autor Anônimo)
Na bagagem, voltei também com essa frase citada por Célio Turino e colhida quando da destruição do Muro de Berlin. Ela veio como um patuá e como uma síntese do evento, ou dessa certeza adverbial de metáfora e atributos – um paradigma mais ético que estético.
Voltei também com algumas perguntas que não fechavam, talvez nunca fechem e fiquem sem resposta – como sempre foram. Talvez sejam a tradução de movimentos cujo motivo resida em mantermo-nos ativos e em policiar a vida; porque toda mudança exige seu tempo, sua temperatura própria: pede sua necessidade. Essas possíveis respostas, mesmo sendo provocações, por enquanto eu as elaboro através da minha angústia. Isso não é descrédito no futuro, mas talvez incompetência em mudar, ou apontar caminhos – mesmo que errados.
Os FSMs, numa medida coletiva, são mais um índice da revolução tão aguardada e em andamento, por isso deixam poucas certezas. A primeira e mais óbvia: o modelo político-econômico atual não serve mais. Ele é morto. Depois, o fato de que pouco se pode afirmar sobre seu ápice – seu ponto de inflexão. Em especial no nosso País onde, feliz ou infelizmente, ela ocorre sob um tamponamento de natureza pouco precisa.
Acho piegas apostar no mito fantástico do artista que muda o mundo – somos, como toda a sociedade, protagonistas. Acho que mais que responder o importante é ser miaêutico, para perguntar melhor, fazer e refinar a diferença, apostando na ingenuidade de ser humano e, sempre que possível, no lúdico. Sempre acreditando. Inclinarmo-nos, acima de tudo, nas tentativas a favor do coletivo: pelo aquecimento de um ciclo virtuoso que só se percebe e do qual só participa ao se desejar e agir.