Arte e Sociedade
Se alguém estiver esperando alguma coluna do Alex na Tatuí, que se apresente para fazer a cobertura jornalística das exposições freqüentadas pela Alta. E não fiquem tão felizes com os espumantes servidos no terraço do remodelado centro cultural mantido pelo banco cheio da grana, pois provavelmente foram comprados com o nosso suado dinheirinho através de mecanismos de renúncia fiscal. Mas, o que fazer se precisamos de espaços expositivos de qualidade onde desaguar a produção artística local, e ainda mais de glamour, de espumantes e caviar nestas exposições?
1 – De quando proposições artísticas nos põem diante de dilemas éticos.
O que pensar quando à frente de um barraco de invasão, deslocado para ser exposto em uma sala de museu, aspirar ao úmido olor da matéria de que era feito e sentir o cheiro avesso de gente entranhado nas tábuas, nos móveis, vindo do interior?
Ante o impacto da presença, aos poucos tentei ordenar os pensamentos a fim de deslindar o meu embaraço. A princípio a repulsa. Indignou-me a feiúra da miséria. Considerei se aquela sensação de choque, ativada na proximidade física a algo normalmente distante, seria algo parecido com um êxtase estético e me culpei pela anuência à estetização do barraco. Em seguida questionei se o deslocamento do barraco era arte. Reincidente e dita irrelevante por uns, a questão há de ser considerada, pois, sabendo-se que a motivação de Márcio Almeida não era a de reverenciar Duchamp, haveria necessidade em exibir o que servira de moradia? Pois, se uma família habitara ali de fato, haveria impedimentos éticos a expô-la daquela maneira?
A presença do barraco não era exatamente necessária, mas não imagino como a experiência que proporciona poderia acontecer de outra maneira.
Culpo-me por pensar nele como a feia cara da cidade. O barraco transportado para o museu indicia os deslocamentos na urbe. Deslocamentos forçados das famílias, motivados por políticas públicas ou por especulação imobiliária. Fez-me pensar também na porosidade entre arte e sociedade na proposta do artista. Logo percebo que seria um erro ingênuo pensar que o dado social no trabalho de Márcio estaria no fato dele ter transferido todo o dinheiro da bolsa para a compra de uma moradia mais adequada à dignidade de uma família. Louvável, contudo, tendo a pensar que a força do seu ato artístico está no que tem de político.
A meu ver, Entre o novo e o nada toca em questões de visibilidade e inserção, contra a desqualificação de pessoas moradoras de áreas de invasão. Condenamos à invisibilidade aqueles que moram em barracos como se a insalubridade das moradias precárias fosse o reflexo do caráter de quem nelas habita. Entre o novo e o nada traz à cena pública aqueles que não ascendem à categoria de vizinhos, mesmo quando estão morando bem à nossa frente.
Um vídeo que acompanhava a instalação exibia o processo de negociação para a troca do barraco por uma casa escolhida pelo artista. Permanecem os questionamentos. O artista faltou com a ética ao tirar proveito de uma situação de poder para negociar uma troca com aquela família? Em outras palavras, ele se beneficiou da vulnerabilidade daquela família?
Fosse outro artista talvez, mas Márcio Almeida tem um longo trabalho de investigação em torno dos deslocamentos e em torno de afetos, apegos aos lugares e seus nomes. Ao mostrar que mesmo nessas famílias vulneráveis há apego às coisas e ao lugar de moradia, Márcio desencavou uma série de significados acerca das questões citadinas. Ao nos franquear a negociação dessa troca, cobra-nos uma resposta diferente da mera desconsideração do problema das populações que habitam esses enclaves de pobreza.
A seguir algumas palavras de Márcio Almeida sobre estas e outras questões de Entre o novo e o nada:
Tatuí: Como se deu a negociação para a troca?
Márcio Almeida: Eu dizia o tempo todo nas negociações que eu não estava sendo um cara bonzinho. Eu dizia que estava trocando um trabalho por outro. Não chegava falando “ah, você ganhou o caminhão do Faustão”, sabe? Busquei alertar de que a troca envolvia perdas, e que estas talvez fossem mais violentas do que meramente perder um guarda-roupa, um fogão, perder qualquer coisa dessas.
Tatuí: Quanto tempo demorou a negociação?
Márcio Almeida: Eu recebi vários “nãos”, e teve casos de pessoas que não me receberam. Eu fiz uma matéria no jornal antes, pra poder ir com um jornal na mão dizer que realmente eu era um artista plástico que tinha esse projeto, meio que para me documentar. Inclusive no vídeo tem um cara que só aparece em fotografia, de costas, pois ele não permitiu que eu filmasse. Ele ficava de costas o tempo todo, mal falou comigo.
Tatuí: Qual a importância dessa negociação para o trabalho?
Márcio Almeida: Esse trabalho tem uma abertura de reflexões que eu mesmo não tenho controle a respeito. O que eu já conversei e falei a respeito desse trabalho, vejo que cada vez que converso novas reflexões surgem. E uma coisa muito bacana é que, por exemplo, somente aos poucos eu fui me dando conta de que a importância desse trabalho para mim era a ação e que eu não tinha o mínimo interesse em montar esse barraco em outro lugar depois.
Tatuí: Você se deu conta depois que o importante era a negociação?
Márcio Almeida: A negociação e a ação, assim, por exemplo, o trabalho era essa mudança da família. Na verdade se me chamassem para expor esse barraco hoje, eu não estaria afim. Faria muito mais sentido pegar a grana do transporte e fazer outra ação. Eu acho muito mais interessante porque é uma coisa que é do momento, que é a ação, que é performance. É como antes com o GPS quando eu rodava pela cidade, sozinho, sem que ninguém soubesse, criava umas rotas, e isso era o trabalho…
Tatuí: E você não registrava?
Márcio Almeida: Eu acho que meu trabalho não precisa de registro… ele é a ação.
Tatuí: Quais seriam as implicações éticas de Entre o novo e o nada, como foi que ele repercutiu?
Márcio Almeida: Esse trabalho mexe em coisas, por exemplo, do poder do artista de ter a moeda para negociar, então isso te coloca numa situação de poder. Eu tinha a casa que era melhor do que a que o cara morava, e de certa forma isso me colocava numa situação de poder. E eu o tempo todo queria mostrar que a relação não era essa, que a relação era a de troca de trabalho, grosso modo, era como se eu estivesse trocando uma casa em troca de uma escultura para o meu trabalho. Eu explicava para eles que não estavam me dando um barraco, uma situação de miséria dele.
Tatuí: Você explicitava para a família de que o barraco seria valorizado de outra maneira, como um objeto artístico?
Márcio Almeida: Fiz com que eles participassem de todas as etapas inclusive na mostra a família estava lá. Eu queria que eles fossem para entender o que estava pretendendo.
2 – De quando pequenos e grandes delitos têm que ser alçados à categoria de artísticos para salvar a pele de seus proponentes. E do tipo de delinqüente cuja habilidade principal é romper a resistência dos limites apenas com a cadência de sua respiração.
O relato a seguir se refere aos “seis atos criminosos que talvez possam ser chamados arte”. Nesses somente a conceitualização redime o artista e o livra da punição. Nas palavras de Lourival Cuquinha, sua poética apresenta uma verve essencialmente questionadora da autoridade instituída e dos dogmas da sociedade em que vive. Valendo-se do palco pretensamente neutro da arte contemporânea, o artista traz à luz a relatividade dos parâmetros de criminalização de certos atos registrados em vídeo, e promove o diálogo entre contextos sócio-culturais diferentes.
“Os seis crimes”, por Lourival Batista
1 – Parangolé
Os Parangolés são trabalhos que só se completam quando usados pelas pessoas. Porém, depois da morte de Hélio Oiticica, suas obras quando são expostas, ou são réplicas ou não se pode tocá-las. Certo dia nos idos de 2001, roubei uma peça, passei mais ou menos 24 horas com ela e filmei tudo. O museu ameaçou chamar a polícia e então devolvi no dia seguinte. O vídeo se tornou uma instalação, mas nunca a montei. Eu lembro que no dia do roubo estava com o ego suficientemente inflado, pois havíamos ganho, eu e Daniela Brilhante, um prêmio na 1° Mostra Rio de Arte Contemporânea.
2 – Noninoninono
Neste vídeo detonamos com tinta branca vários cartazes e outdoors de políticos durante a eleição para presidente, em 2002.
3 – Performance do Mongus no posto 9 da praia de Ipanema
Mongus vai ao fundo do mar e por um aviso da produção do filme, os salva-vidas acham que ele está se afogando. Eles vão salvá-lo e chamam o “Águia”, um helicóptero que naquele dia já salvara várias pessoas de afogamentos reais. A cena é linda. Oscar de melhor produção do cinema nacional para Telephone Colorido. Mongus volta à praia num vôo espetacular sobre Ipanema. Ainda tem uma entrevista com o salva-vidas e uma trilha de Fausto Fawcet de quebra.
4 – Passar o filme proibido “Di”, de Glauber Rocha, feito no enterro de Di Cavalcanti (grande pintor modernista brasileiro) cuja família proibiu na justiça a exibição. Ava, filha de Glauber, pode me conseguir o filme.
5 – Los Erramos
No Festival de Inverno de Garanhuns, em 2003, eu e Dani Brilhante demos uma oficina de animação. Ficamos no mesmo hotel das bandas do festival. Uma, em especial, tem todos os integrantes barbados e se chama Los Hermanos. Minha barba estava enorme na época. Um entrevistador de rádio, que não devia conhecer direito a banda, viu o editor da nossa oficina também barbado junto comigo no saguão do hotel. Com muita segurança ele nos questionou: “Los Hermanos?”. Eu prontamente disse que sim e, apesar do editor ter saído de fininho, o bem intencionado rapaz acreditou. Grilo, que estava por perto, com seu feeling genial, percebeu a importância do que aconteceria e registrou tudo. Seguiu-se uma entrevista absurda na qual a falsidade ideológica imperou. Quando a banda chegou no hotel após o show mostrei o vídeo a eles e dei-lhes uma cópia para que me processassem. Eles colocaram no site e o “Sopa Diário” exibiu na outra semana.
6 – Artraffic
É o seguinte. Quando cheguei na França comecei a fumar haxixe com tabaco, como todo mundo lá. Não me adaptei, não conseguia nadar no porto de Marseille. Pensei num jeito diferente de fumar, como eu fumava no interior de Pernambuco, quando morava lá em São José do Egito. Enfiei a pedra de haxixe numa agulha, queimei, soprei e ela ficou em brasa soltando uma fumacinha. Depois foi só aspirar a tal fumacinha. Para ter sempre à mão, passei uma linha no buraco da agulha e amarrei-a no pescoço. Foi então que percebi que se tratava de uma linda peça plástica, e como era o dia da independência de Moçambique, intitulei-a “Collier du Mozambique”. Fiz um manual de instruções desenhado em PB e xerocável, e uma sequência de fotos que explicavam como usar.
Comecei a vender cada colar pelo valor de cinco Euros, junto com o manual de instruções ARTRAFFIC. Fiz uma exposição em Paris em novembro passado, no Palais de Port Doré, e vendi bastante. Empolguei-me, pois esta foi a peça que mais vendi. Só tinha vendido dois quadros em 1996 por preços irrisórios e agora sou um artista comercial. O engraçado é que varias pessoas compraram para fumar no mesmo momento e outras até emolduraram junto com a xérox do manual de instruções. Daí o projeto tomou corpo. Fiz uma performance na École Supérieure d’art d’Avignon, que consistia em fumar um “Colier du Mozambique” e tentei expor na École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence onde eu fazia uma residência. Mas o diretor me disse: “j’adore le travail, mais désolé, ici c’est une école publique”. Então eu expus outros sete trabalhos, inclusive um vídeo que se chama “désolé” e escrevi um texto sobre esta situação na parede da galeria:
Eu tenho também outro trabalho que se chama, “Le Collier du Mozambique” para expor. Talvez o trabalho mais forte que produzi aqui na França, mas é impossível mostrá-lo, pois aqui é uma escola pública, mesmo que todo mundo fume muitas coisas aqui na França. Bem, é assim mesmo, vou guardar este trabalho para minha exposição no Pompidou.
Depois, continuei as aventuras. Eu e minha amada Marion fomos parados na fronteira da Suíça com a França e os policiais encontraram metade do haxixe. Talvez eu fosse deportado e pagasse uma multa, mas tudo se esclareceu quando mostrei o manual de instruções e revelei a arte embutida na atitude (gostei desta expressão). Eles apreenderam o que acharam, disseram que iam expor o panfleto numa vitrine do bureau da polícia da fronteira e nos liberaram. Pela atenção de um dos policiais em relação a minha explicação acho até que ele fumava, pois quase todo mundo fuma haxixe na França. Uma coisa é certa, ele aprendeu direitinho. Eles realmente só engrossaram quando pedi para registrar aquele momento. Mas tudo deu certo no final.
A última etapa do projeto em andamento foi trazer o haxixe para cá, quando voltei da França. Embalei, coloquei na mala e fotografei. Fotografei minha paranóia no avião Marseille-Paris-Rio-Recife, e a mala chegando aqui. Nenhum problema, exceto o laptop que não declarei e tive que pagar mil reais de impostos na alfândega. Bem no começo desta seqüência de fotos, que chamo de ARTRAFFIC INTERNACIONAL, dou um beijo em Marion e, no fim, minha filha Ingà Maria me dá um beijo. É lindo.
Tenho vendido bem aqui no Brasil, por 10 Euros. O aumento do preço é proporcional à nóia durante a viagem. Fiz uma exposição no Rio de Janeiro, na galeria Gentil Carioca e acabei vendendo todo o meu estoque de haxixe. Comuniquei-me com alguns amigos na França que me mandaram mais e registraram todo o processo. Estou com um pouco de medo de levar o material de trabalho. Agora acabo de ser convidado para a exposição em Weimar, Alemanha, e preciso arranjar um jeito de conseguir este trabalho, e levar mais haxixe.
Queria falar uma coisa mais a respeito. Esta discussão sobre se as coisas são arte ou não está um pouco defasada. Uma pintura hoje ninguém questiona se é ou não arte. Pode-se dizer que é ruim, mas é arte.
Nos trabalhos do Artraffic somente o conceito pode justificar uma não punição. Nestes casos é obrigatória a performance do convencimento, de si mesmo até. Se você não tiver certeza, não convence a ninguém, como no caso da fronteira Suíça/França.
3 – E do crédito a ser conferido aos líquidos com alta gradação alcoólica como vetor para a criação coletiva por grupos de artistas na cidade: arte, vício e sociabilidade.
Na apresentação dos resultados de sua pesquisa, levada a cabo com o apoio da bolsa do Salão de Artes Plásticas de Pernambuco, Clarissa Diniz explanou como funcionavam os mecanismos de legitimação em questão, pois funcionava como uma alavanca às outras estratégias. De fato os vínculos que estimulam a cooperação e a colaboração para fins coletivos, num agrupamento ou numa rede de relações, funcionam de modo a que todos possam se comunicar e partilhar do requinhão artístico no nosso Estado. Dentre os tipos explicativos um deles chamou-lhe mais a atenção por perpassar os demais: o capital social ou, simplesmente, o amor. A ligação entre as pessoas, através da relação de amizade em vínculos afetivos perenes, segundo Diniz, favorecia a que se alcançasse reconhecimento mútuo como artista.
Dado o recado de Clarissa, chegamos ao que é da natureza de boa parte dos relacionamentos de amizade: os vínculos necessitam ser continuamente reafirmados, via de regra em longos encontros, bate-papos, reuniões boêmias regadas a muito álcool. A seguir, um relato exemplar dessa conexão entre grupos de artistas e suas criações coletivas em meio à vivência da noite da cidade, nos bares populares, na boemia.
Templos do Prazer
por Maurício Silva
Como quase disse Friedrich Nietzsche: sem o Bar a vida seria um erro. O Bar é o melhor lugar, esta idéia de extensão do lar, o aconchegante endereço para se encontrar os amigos, e como sempre, falar do que se gosta e de tudo que acontece e etc. e tal. No Recife não poderia ser diferente. Construímos vários ambientes onde nos encontrávamos e além de criar e elaborar muitos projetos bebia-se, o que era o melhor. Muitos destes lugares ainda sobrevivem em nossa Cidade. Vamos nos concentrar em dois aos quais estive mais próximo e que freqüentava quase que diariamente: o Bar Royal e o Bar do Seu Vital, dois lugares distintos, mais com peculiaridades afins. O Royal foi fundado por Seu Ribeiro que tinha um pequeno fiteiro junto ao Bar Gambrinus e que conseguiu abrir seu estabelecimento próprio na Rua Tomasina. Sua clientela sempre esteve ligada ao movimento do porto e aos comerciantes do lugar. Durante mais de sessenta anos o Bar Royal esteve presente na vida dos recifenses. O Atelier Quarta-Zona de Arte instalou-se no Bairro do Recife Antigo e depois o Atelier do Cais, e alguns artistas isoladamente começaram a freqüentar e trabalhar também no bairro. Eram os idos anos oitenta, frequentamos vários bares da região, o Bar do Fogão, o OK, o Francks, o Seu Rainha, o São Francisco, o Bar dos Gatos, o Bar da Charque, e outros que fogem da minha memória. Era neste ambiente que eu era casado só até às 18h. E muitas produções foram compartilhadas pelos amigos e pelas personalidades que flutuavam por ali. Noutros bairros da cidade outros pontos existiam, o Cantinho das Graças, o Panquecas, a Soparia, mas estávamos tão presentes no Bairro do Recife Antigo que elegemos o Bar Royal como QG de nosso grupo. Nesta época conhecemos o Fernando, filho do Seu Ribeiro, que começava a administrar o estabelecimento. Como ele vinha da Faculdade de Design da UFPE, conhecia alguns artistas e tinha um melhor atendimento. Desistimos do Bar Gambrinus, mesmo com toda a simpatia de das Neves, o garçom que tão bem nos atendia. O Royal tornou-se habitual e funcionava de 9h às 20h. Depois de um tempo começamos a freqüentar o Bar a portas fechadas, chegando mesmo às primeiras horas da madrugada, onde éramos convidados a sair e tínhamos que ir ao Extremo Oriente ou mesmo ao Grego, sempre dependia do nosso estado de sobriedade. Descobrimos também o cardápio do Bar: a Dobradinha na sexta-feira, o pé de porco no sábado. Instituímos o nome Cristina para a simpática garçonete, e muitos projetos foram realizados: O Temporal PE, o vídeo Sacrossantos Eróticos, o Royal Academia de Artes __ este último foi uma extensão do Arte na Barbearia que também começou na mesa de um bar __ as pinturas nos muros das fachadas com o grupo Carga e Descarga e muitas e muitas garrafas de cerveja, cigarros, de todo tipo, homens e mulheres, de todo tipo, e muitos amores. No outro lado da cidade, num bairro bem mais bucólico e não menos alcoólico, criou-se uma outra confraria. No Bar do seu Vital, no Poço da Panela, muitos poetas, filósofos, jogadores de dominós, artistas, críticos e dançarinos de gafieira, se juntavam e ainda se juntam. Sambam, contam estórias e o melhor: bebem bastante. O atendimento impecável e a cerveja super-gelada são a razão do nosso interesse pelo lugar, sem falar na calma e na boa energia que esta esquina do mundo nos proporciona. Soube recentemente que uma Mini-Galeria de arte se instalou no Bar e que um grupo de artistas está com um atelier bem próximo. E é isto, somem o tempo que ficamos nestas mesas, escritórios etílicos onde tantos projetos são mirabolantemente criados e vamos constatar que talvez nossos dias fiquem bem mais presentes nestes templos do prazer e da volúpia, que em nossos próprios lares. Resolvi escrever este texto no melhor endereço que encontrei por aqui, o La Coupole, em Montparnasse. Neste lugar muitas idéias sobrevoaram o ambiente e nada melhor que captar estas ondas que ainda permanecem por aqui.
Paris, janeiro de 2007.
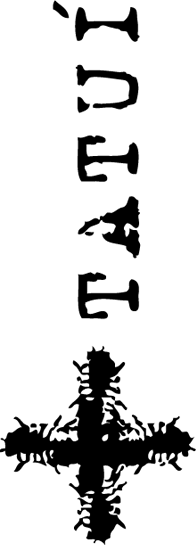











Comentários