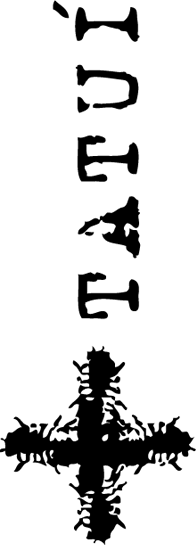
www.revistatatui.com.br
Curtos circuitos: uma política de (re)posicionamentos
Pela necessidade, impulsivamente humana, de querer entender todos os processos de maneira lógica, é que se insiste em fazer a palavra-significante dar conta da imensidão de significados (i)mediatos. Com a palavra arte não foi diferente. Desde a Grécia antiga, houve o empenho em busca de definições para tornar as “obras de arte” fáceis de reconhecer – embora sempre difíceis de serem de fato conhecidas. Mas, aqui, na contemporaneidade em que tudo é poroso e todas as possibilidades, a priori, possíveis, essa é uma missão (quase?) impossível de empreender: delimitar o modus da arte.
Assim, salto de uma tentativa (atual) de apreender “o que é arte” para me debruçar sobre “qual arte” vamos lidar. A urgência em se pensar em “qual” arte e não mais “o que é” passa pelo entendimento de que assim como o cubo não é branco (jamais deixa de agregar outros valores-significados para além da obra-de-arte-em-si), o circuito no qual a arte estará inserida também não é branco [1] . Os valores que alicerçam o circuito também implicarão a arte (enquanto obra) por sua mera inserção neste.
Tem sido extremamente penosa essa estrada percorrida de constatação (e impotência?) diante da (im)possibilidade de uma crítica de arte. O colapso é geral e os discursos esquizofrênicos – para não dizer quase tolos – exaustivamente se repetem e não se envergonham em sê-los. Por certo que a crítica de arte perdeu seu veio. As artes (de agora) que abarrotam exposições, sobretudo em instituições privadas, perderam (vertiginosamente) seus poderes de interlocução. Até obras de arte que há 50 anos atrás eram “diversas, porém algumas estreitamente vinculadas, todas convergiam no projeto e na linguagem, no desejo de modernidade e nos modos de produzir a significação social” [2] . Carlos Basualdo, (org) São Paulo: Cosac Naify, 2007.Pág 84], paulatinamente vão perdendo seus significados iniciais, porque hoje, sob anteparos (físicos e institucionais), vão se calando. O que é o Parangolé sem o samba na rua, ou os Bichos sem o contato da pele? Antes de a crítica retornar aos discursos sobre forma e conteúdo, há que discutir a inserção das obras em determinado(s) circuito(s).
Percebo que nos últimos tempos arte e mercado têm andado juntos (sempre estiveram, é verdade) numa simbiose preocupante: em primeiro lugar, a questão de valor fica cada vez mais à mercê de uma especulação notadamente econômica, em detrimento de uma construção coletiva baseada na densidade simbólica que a arte pode manifestar. Em segundo, os mecanismos de mercado inevitavelmente acabam atraindo fórmulas do fazer, geralmente ancoradas numa autorreferência historicista, que deixam de fora a dimensão coletiva de construção simbólica – ou seja, pouco se dão a pensar no público.
Entendo que o discurso de autonomia reivindicado pelos primeiros modernistas europeus era de uma necessidade de ver sua arte desvinculada de qualquer tentativa de dirigismo, seja esse feito por um partido político, classe social, entidade religiosa… Mas tal discurso acabou descolando arte e vida; por consequência, arte e público. Se há uma continuação nessa derrocada, ao meu ver imbricada naquela ideia de autonomia mencionada, há também que se parar de entender arte enquanto construção de valor social, ou imaginário simbólico coletivo.
Não consigo imaginar, hoje, em que se celebra a potência da pluralidade atuando em infinitas direções, a imposição de um discurso (de)limitador das práticas artísticas. Ainda assim, é saudável a construção de parâmetros ético-estéticos em torno dos quais podemos arguir, propor e analisar os múltiplos fazeres no campo da arte, sobretudo aqueles que pretendemos (re)conhecer como obra.
Já é possível perceber uma crescente volta a uma institucionalização da arte, ainda assim (e ainda bem!), não é possível argumentar que só por isso ela venha perder sua potencialidade subversiva. Por mais que as formas de visibilidade, cada vez mais ditadas pelas instituições, comprometam parte da pulsão criativo-transformadora. De um lado, pela castração inicial da criatividade artística pelo modelo de editais, por outro, devido à imposição de “maneiras de fruir” próprias dos discursos “arte-educadores” paulatinamente arraigados em cada museu ou centro cultural. Por sua própria natureza, a arte, enquanto construção simbólica, guarda em si a potencialidade de não se deixar domar: sua parte imaterial é infixa: capaz de gerar formas incontáveis de se dar a subjetivação. Faz-se necessário pensar, contudo, o universo estético para além da obra de arte.
Se é possível falar em uma necessidade da arte é porque entendo que, para além de entender arte como um construto que pode vir a assumir uma infinidade de formas e discursar sobre infinitos assuntos, há que se entender esse construto dentro de um espaço e temporalidade específicos que pedem um comprometimento. Tal compromisso não deve engessar a arte em formas ou conteúdos, mas também não deve prescindir do binômio arte-vida enquanto princípio ético. É preciso pensar o(s) circuito(s).
Qual arte?
Retomando essa ideia, quero propor um pensamento acerca desse grande circuito com o qual nos acostumamos a lidar, em que a legitimação das obras passa necessariamente por um modelo duvidoso de “aceitação”. Em que pese a necessidade de visibilidade da obra de arte, não se pode só e tão somente usá-la como valor suficiente de legitimação. É sintomático (e constrangedor) se dar conta da existência de uma produção artística apenas ativada por demandas institucionais pouco afeitas à vontade de modificar, transcender, movimentar (que não somente nos discursos). Quando o ponto alto da preocupação de um artista se resume à visibilidade de seu trabalho numa exposição de um banco privado, é preciso estar alerta acerca da arte com a qual queremos lidar.
Não restam dúvidas de que hoje há uma urgência anterior à da demanda de se discutir se há ou não arte em determinada proposição artística. É preciso pensar quais implicações sociais e políticas esta proposição passa a carregar consigo quando se deixa ser parte de um sistema notadamente guiado pelo modus capitalista. O surgimento de inúmeros coletivos pelo país talvez seja uma seta que aponte para uma possibilidade de se gerar novas formas de ativação das artes visuais, sem necessariamente vincular-se de forma direta às demandas de um mercado.
Por si só, a ideia de coletivo tem um aporte simbólico interessante, no sentido de inscrever no mundo a possibilidade de atuações em conjunto sem, contudo, desfazer-se da subjetividade. Cada coletivo pode (e deve) trazer consigo a força da liberdade criativo-simbólica individual manifestada em cada proposição de arte, seja essa assinada como grupo ou como pessoa. O fato de uma proposição partir de um coletivo carrega em si uma potência revigoradora, que faz perceber um sistema possível que passa ao largo da base estruturadora desse sistema mercantil dominante: o individualismo.
Ainda são poucas as atuações dos coletivos a caminho de uma organização de modo a conseguirem criar circuitos que sejam autônomos a esse que está posto. A necessidade de outros circuitos não se trata absolutamente da negação do mercado, ou mesmo da atuação institucional (seja pública ou privada – que no Brasil, não é fácil distinguir). Mas de um (re)posicionamento mormente do artista frente a uma situação de quase mendicância – sobretudo, no que diz respeito a quase ausência de voz sobre os modos de seleção, exibição, exploração das obras de arte (e suas derivações) impostos pelo atual mercado.
A relevância dos circuitos autônomos passa também pela necessidade de se criar equidistâncias nas atribuições de valor que não sejam só econômicas. Nesse sentido, é imprescindível pensar em atravessamentos entre um circuito e outro, de modo a criar pontos de tensões que reequilibrariam as ideias de valor sobre a obra de arte.
Não é possível pensar numa (re)construção de valor da obra de arte sem pensar também o (re)posicionamento do artista enquanto agente político e social. Isso não quer dizer, de forma alguma, que o artista deveria estar imediatamente atrelado a uma causa, mas que não deve prescindir de deixar claro suas formas de atuação. De outro modo, seus trabalhos estarão cada vez mais à mercê da especulação e manipulação de significados, que interessam tão somente ao atual mercado.
O circuito não é branco
É cada vez mais escancarado o uso da arte na atividade marketeira (notadamente, dos bancos privados e empresas multinacionais). Sob a máscara de mecenas, estas instituições não só se utilizam desse status para ganhar os bons olhos da sociedade, como se apoderam das obras de arte ao atrelar as imagens-significados às suas próprias marcas. “Atentas à sua posição simbólica na mente das pessoas (consumidores), as empresas usam as artes, carregadas de implicações sociais, como mais uma forma de estratégia de propaganda ou de relações públicas(…)” [3]
Assim sendo, seria absolutamente ingênuo se entregar aos usos e costumes desse sistema sem considerar que cada obra de arte que se coloca nesse percurso de “legitimação” está, de forma inevitável, implicada no impacto das ações sociais e políticas de cada uma dessas empresas.
Curtos circuitos
Talvez pareça mera utopia imaginar a possibilidade da criação de circuitos autônomos (e interdependentes); mas modelos políticos, econômicos e sociais sustentáveis como os das ecovilas podem ser uma referência interessante para se pensar futuros [4] Penso a ecovila não como solução por sua forma, mas pelos conteúdos que ela propõe: política, economia, cultura autônomas (entendendo autonomia como interdependência). Na verdade, o tom do texto é mais de conversa do que de indicação de soluções. É mais uma fala e menos um aprofundamento sobre algo específico. Quero propor que pensemos a ecovila como conceito e, nesse sentido, cabe dizer que as tribos indígenas, MST e outras tantas organizações, hoje, fazem parte desse conceito.].
Ao contrário do que nos acostumamos a ter notícia, a maioria das ecovilas não são autossustentáveis, mas autônomas e se sustentam por meios diversos de geração e aquisição de produtos que não sejam somente produzidos pelas grandes indústrias. Uma ecovila se põe como comunidade que tem sua própria forma política, social e econômica. Nesse sentido, esta constrói sua autonomia e se posiciona tensionando e readaptando as formas do mercado agir sobre si mesma.
O número de ecovilas no mundo não se tornou relevante o suficiente para criar um impacto no atual modelo econômico dominante. Ainda assim, se manifesta como um modelo possível de vivência e isso, por si só, potencializa transformações na maneira de lidar com esse sistema mercadológico.
Nessa direção, não é distante pensar em pequenos circuitos movimentados por coletivos que possam se organizar inventando suas próprias formas políticas, sociais e econômicas. Ao alicerçarem suas autonomias, estarão prontos para os atravessamentos necessários no grande circuito criando uma entropia que gere atuações mais equilibradas.
[1] — Circuito branco foi um termo utilizado por Newton Goto desde as primeiras conversas do processo de imersão editorial que gerou esta revista.
[2] — Celso Favaretto, texto Tropicália a explosão do óbvio, no livro Tropicália: uma revolução na cultura brasileira [1967-1972
[3] — Wu, Chin-tao. Privatização da cultura: a intervenção corporativa na arte desde os anos 1980. Trad. Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2006. Pág. 32.