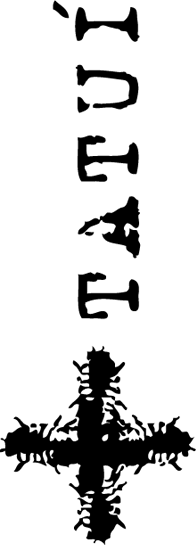
www.revistatatui.com.br
Contradição e ambivalência: Algumas ideias sobre arte e esfera pública no Brasil
Esta dimensão política da arte, em contato com diferentes dinâmicas sociais, é detonadora de processos críticos que podem produzir esferas públicas de discussão. Ao examinar a constituição de tais esferas públicas, é importante considerar as experiências artísticas que, ao longo do século XX, promoveram uma maior comunicação entre a arte e outros contextos sociais, atento ao processo de especialização dos campos simbólicos na modernidade que, segundo Nestor Garcia Canclini [2] , acentuou as distâncias entre o meio artístico e seus públicos. Muitas experiências, que atuaram no sentido de reduzir estas distâncias, foram conduzidas por meio de uma aproximação de práticas artísticas com o espaço urbano. Deste modo, muitos artistas constituíram diferentes formas de atuação, ora reafirmando as maneiras instituídas de pensar a cidade, ora confrontando estas maneiras, que manifestaram implicitamente distintos entendimentos de espaço público e esfera pública – o lugar discursivo, onde indivíduos se engajam para realizar algum debate crítico.
Ao pensar tais questões no contexto brasileiro, não se pode deixar de lado o fato de que a ideia de espaço público é um elemento essencial do projeto de modernidade concebido no continente europeu. A modernidade é algo que se realiza de modo distinto no contexto latino-americano.Consequentemente, muitos de seus elementos, como a ideia de espaço público, também se tornam apenas parâmetros de um modelo que não se aplica em sua plenitude em nosso continente. Daí a questão: como entender espaço público no Brasil? Esta resposta está em constante transformação. Não se trata de tentar descobrir se os tipos de relações que culminaram no conceito de público são ou foram experimentados em algum momento no Brasil da maneira como aquele foi idealizado. Esta tarefa reafirmaria a suposta hierarquização que privilegia a cultura eurocêntrica. Talvez o esforço seja compreender como essas diferenças contribuíram para as nossas produções do conceito de espaço público.
A noção de espaço público, implicada na produção artística do início do século XX no Brasil é, principalmente, entendida como um lugar universal e acessível a todos e que, além disso, representaria uma identidade nacional ou uma cultura brasileira. Naquela época, sob o olhar da sociologia, alguns autores como Sergio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, que contribuíram para a investigação sobre a formação do país e dos aspectos culturais brasileiros, abordaram a contradição como elemento para identificar alguma unidade sobre o que seria brasileiro. É como se todos compartilhassem as mesmas referências, pressupondo um modelo de esfera pública que também procura dar conta de uma totalidade.
Também na primeira metade do século XX, durante o governo autoritário e centralizador de Getúlio Vargas, foram construídos edifícios paradigmáticos da arquitetura moderna no Brasil, como o Ministério da Educação e Saúde (1937-1945), no Rio de Janeiro, no qual trabalharam Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Burle Marx e Portinari. Mas não seria justo dizer que artistas e arquitetos modernos trabalharam em obras oficiais do governo para afirmar o pensamento político autoritário vigente. O que se argumenta sobre a atuação destes é uma condição de troca, pois segundo Mario Pedrosa, poderiam “dispor de um espaço próprio de trabalho, a partir do qual poderiam divulgar o conteúdo revolucionário de que suas obras seriam portadores” [3] . Existe uma contradição que não se supera entre o entendimento de democracia contido na nova arquitetura moderna e o desejo de imponência da ditadura, embora os arquitetos continuassem sustentando que as inspirações eram completamente opostas.
Atualmente, se percebe que esta reflexão sobre o entendimento da cultura brasileira da época funcionou como elemento de integração. A contradição é identificada para, de alguma forma, ser conciliada, resolvida. Esta perspectiva visa sintetizar um padrão de cultura que supere as contradições.
Com o início da repressão no regime militar, se torna mais evidente, à sociedade e aos artistas, a necessidade de criação de outros espaços públicos, diferentes de um espaço oficial simbolicamente vinculado ao Estado, que representa uma só ideia de Brasil ou de cultura brasileira. A mídia, a sociedade civil e os espaços comunicativos primários – formas de interação mais simples da vida cotidiana – seriam as principais dinâmicas de construção destes espaços, segundo Sérgio Costa [4] . Como todo este processo não se dá de maneira evolutiva, é preciso compreender que essas distintas formas de entendimento do espaço público se sobrepõem entre si, numa operação de soma.
É preciso entender que uma posição crítica implica inevitáveis ambivalências; estar apto a julgar, julgar-se, optar, criar, é estar aberto às ambivalências, já valores absolutos tendem a castrar quaisquer liberdades; direi mesmo: pensar em termos absolutos é cair em erro constantemente – envelhecer fatalmente; conduzir-se a uma posição conservadora (conformismos, paternalismos; etc.); o que não significa que não se deva optar com firmeza: a dificuldade de uma opção forte é sempre a de assumir as ambivalências e destrinchar pedaço por pedaço cada problema. Assumir ambivalências não significa aceitar conformisticamente todo esse estado de coisas; ao contrário, aspira-se então a colocá-lo em questão. Eis a questão. [5]
Este trecho do texto “Brasil Diarreia” (1970), de Hélio Oiticica, revela uma outra abordagem da cultura brasileira, encarando de maneira distinta as contradições identificadas como um traço característico da sociedade. Esta outra forma de compreensão considera tais contradições como uma condição dada a priori.No entanto, não se empenha em conciliá-las, ou resolvê-las. Ocorre que as incoerências existentes passam a ser esgarçadas e provocam atuações realizadas de maneira ambivalente.
Se por um lado, a ideia de contradição não consegue mais resumir as características culturais do país, por outro, ela não é simplesmente abandonada, continua sendo reconhecida. O que se modifica é a postura diante dela, passando-se a assumir a contradição não somente como problema, mas como condição, levando a agir de maneira ambivalente. Em outras palavras, a ambivalência é necessária a fim de lidar com diferentes esferas públicas, numa constante negociação entre elas. Uma destas esferas é o contexto artístico, por isso tais condições são trazidas para o próprio processo de trabalho.
Ao longo de minha atuação artística, tento construir situações que procuram se inserir na dinâmica da vida cotidiana e em seus processos de constituição, sem enunciar imediatamente ao público que se trata de uma proposição artística. Estas atuações apontam em direção a um entendimento da arte na qual nem a forma da obra, nem seus públicos, são fixos, mas estabelecem uma constante negociação entre si. Compreendo que tais propostas investem na importância dos espaços comunicativos primários, citados antes,enquanto formadores de esferas públicas, simultaneamente aos espaços da mídia ou o Estado.
Embora me concentre na escala e na temporalidade dos espaços comunicativos primários, percebo que considerar as diferentes noções de público é mais adequado que incorrer no risco de assumir um sentido idealizado, entendê-lo como o único e forçar sua instituição. Mais interessante é manter o esforço em compreender diferentes noções, ainda que sejam contraditórias, e assumir uma postura ambivalente, que permita transitar entre elas não para amenizar suas diferenças, mas para abordá-las criticamente e constituir novas esferas públicas.
* Este texto apresenta ideias de um dos capítulos de minha dissertação de mestrado, chamada Artista é Público, defendida em novembro de 2009 (Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo).
[1] — MOUFFE, Chantal. Practicas artísticas y democracia agonística. Barcelona: MACBA, 2008.
[2] — Canclini, Nestor Garcia. Culturas Híbridas. São Paulo: Edusp, 2006.
[3] — Pedrosa, Mário. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981
[4] — Costa, Sérgio. As cores de Ercília: Esfera pública, democracia, configurações pós-nacionais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
[5] — Oiticica, Hélio. Brasil Diarréia, 1970. In: Ferreira, Glória (Org.). Crítica de arte no Brasil: Temáticas Contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006.